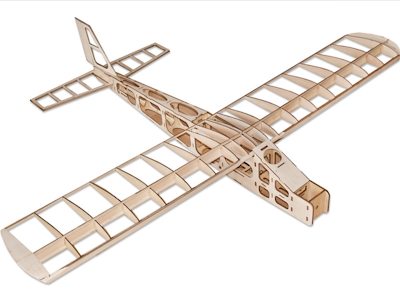“Não vale a pena tentar explicar, está criado na imprensa um ambiente adverso contra os diplomatas”, foi o que ouvi de antigos e atuais colegas, quando me propus escrever este texto, aproveitando a simpática abertura do CM, a propósito do artigo aqui publicado no passado dia 12, que tinha por título “Diplomatas ganham mais do que Marcelo”. Mas eu sou teimoso.
Desde logo, talvez nos devêssemos interrogar por que razão, se efetivamente há um “escândalo”, o Presidente da República e o Governo não atuam para lhe pôr cobro. Ou será porque, afinal, não há escândalo nenhum? Posso explicar, se o eventual leitor estiver de boa fé e disponível para ler para além dos títulos.
Comecemos por Portugal, embora essa não tenha sido a questão central do artigo do CM. Um diplomata português recebe, ao longo da sua carreira, um salário próximo de um qualquer outro técnico do Estado, embora a sua entrada na profissão o obrigue àquele que é, sem a menor dúvidas, o mais exigente concurso de toda a nossa Administração Pública. Aliás, acabam de ser recrutados novos diplomatas, depois de provas que se estenderam por quase um ano e para as quais se inscreveram 1800 candidatos. Entraram… 30!
A carreira é longa e, nos casos escassíssimos dos diplomatas que conseguem atingir o seu topo, ao final de 40 anos, o máximo que podem conseguir vir a receber serão 4.362,00 euros ilíquidos - para valores de 5.011,00 para os militares, 5.401,00 para os professores universitários, 5.664,00 para os médicos e 6.130,00 para os magistrados. Se o leitor tiver uma explicação para estas disparidades, gostaria de conhecê-las.
Na situação de reforma, no seu regresso a Portugal, não conheço nenhum embaixador, mesmo no topo da sua carreira, que receba um montante líquido mensal que atinja os 3.000,00 euros. E alguns desses embaixadores de topo recebem bem menos. Imagino que os leitores não saibam. E que até não acreditem. Mas é pura verdade.
Mesmo assim, dirão alguns, não é mau. Repito: estou a falar dos lugares mais elevados da carreira, atingidos por muito poucos. Uma carreira que, no total, não chega a 400 pessoas, num Ministério que gasta bem menos de 1% do OGE.
Talvez o leitor deva saber que, se acaso um diplomata for casado, o cônjuge terá tido, provavelmente, de abandonar o seu emprego para o poder acompanhar nas longas permanências no estrangeiro. O que significa que, quando a carreira do diplomata chegar ao fim, apenas levará para casa uma única reforma e o seu cônjuge ficará numa total dependência. Sabiam que isto acontece muitas vezes? Tem já havido situações dramáticas de viúvas de diplomatas, vivendo em condições de grande dificuldade.
Mas falemos do estrangeiro, onde os montantes recebidos levantaram o tal “escândalo”.
Começaria por lembrar que, quando é colocado no estrangeiro, o diplomata não deixa de ter necessidade de manter uma casa em Lisboa. E de a continuar a pagar ao banco. Depois, no posto onde for colocado, salvo se for embaixador, vai ter que alugar uma nova casa, aos preços de arrendamento locais, num mercado para expatriados geralmente bastante caro. Recebe, naturalmente, um abono específico de ajuda para tal fim. Os embaixadores, claro, não recebem esse abono.
O diplomata representa o seu país. No estrangeiro, tem obrigatoriamente de convidar pessoas, para casa ou para restaurantes - colegas de outras embaixadas, figuras locais, portugueses de passagem. Tem de fazer aquilo a que se chama “representação”, essencial para a sua atividade, e, por lei, deve explicar detalhadamente como e por que gastou um montante que, para esse fim, lhe foi destinado.
Finalmente, se tiver filhos, tem de os colocar em escolas internacionais, mais caras que as restantes, por forma a permitir que, nas sucessivas transferências, haja a possibilidade de prosseguimento dos estudos. O Estado comparticipa naturalmente alguma coisa para esta despesa obrigatória e excecional.
O tal montante “escandaloso” atribuído ao diplomata é, assim, o somatório de tudo isso: do seu salário de base, do subsídio para aluguer de casa (que raramente cobre a totalidade da renda), do montante para representação social (repito, que tem de justificar caso-a-caso) e da ajuda às despesas de educação dos filhos (também parcial face às despesas).
Se o leitor, o leitor de boa fé, chegou a esta parte do texto merece também que lhe seja explicado que esta é uma carreira que implica sucessivas mudanças de país, às vezes vivendo em cidades simpáticas, outras vezes em lugares insalubres e perigosos, por razões de saúde ou insegurança. Não existe, na Administração Pública portuguesa nenhuma profissão que obrigue a tão drásticas mudanças de vida, de climas, de continentes, a tão grande instabilidade das famílias, todos os quatro ou cinco anos.
É talvez por saber muito bem tudo isto que o “Marcelo”, referido no título “Diplomatas ganham mais do que Marcelo”, não se cansa de elogiar fortemente o trabalho desta carreira de servidores do Estado, como também o fazem muitos empresários e portugueses espalhados pelo mundo.
Então, leitor? Fecham-se as embaixadas?
(Texto publicado no “Correio da Manhã”)