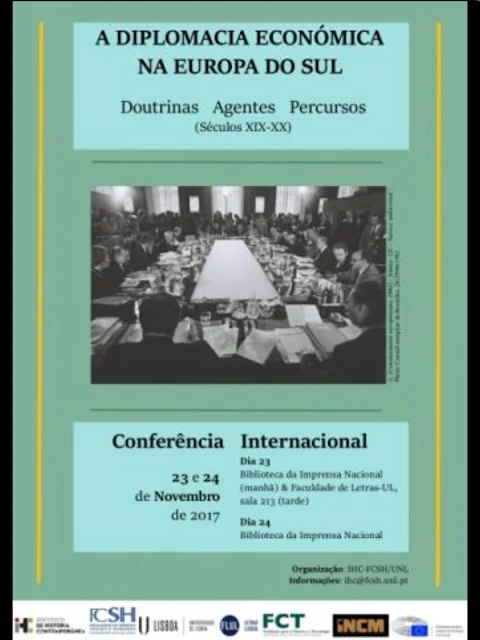Há cidades que tenho pena de nunca ter conhecido. “Tens pena? Por que não vais lá?”, imagino alguns amigos a perguntarem-me, achando-me simplesmente forreta, por não querer desembolsar o dinheiro de uma viagem.
As coisas não são exatamente assim. Há tempos e idades para tudo. Andei muito à boleia, já dormi em maus hotéis. Mas nunca fui um viajante obsessivo. Dos pouco mais de 100 países em que estive (não visitei, “estive”: às vezes só conheci o aeroporto, o hotel e um ministério ou escritório), guardo boas recordações mas, igualmente, memórias menos simpáticas. Quase sempre esqueço estas últimas, porque a vida faz-se é de alegrias.
Em matéria de viagens, estou hoje incomparavelmente mais comodista do que aquilo que sempre fui (e sempre fui muito): gosto de viajar confortavelmente, não aprecio programas “radicais”, não dispenso um bom hotel, com ar condicionado e outras amenidades, nomeadamente gastronómicas. Por isso, os meus desejos em matéria de viagens articulam-se, nestes dias, com esse padrão.
Há cidades que, embora continuando a existir, deixaram de ser o que eram quando a minha imaginação me motivava para as visitar. Exemplos? Sana, no Iemen, Cabul, no Afeganistão, Cartum, no Sudão, ou Aleppo, na Síria. Faziam parte do meu roteiro potencial de viajante, mas a vida que hoje por lá se vive deixou de me entusiasmar. É claro que ainda são visitáveis, há excursões de risco que se podem tomar, mas que graça pode ter ir numa viatura blindada entre um aeroporto e um hotel muralhado, passar a correr, dentro de um carro, por uma rua onde podemos ser assaltados, onde uma bomba pode saltar, onde um “rocket” pode cair, a qualquer momento? É que uma cidade turística, para mim, são passeios a pé, são lojas, é olhar gente, entrar num café, numa casa de velharias, visitar, com calma, igrejas ou monumentos, experimentar (boa) comida local.
Assim, certas paragens, na minha curiosidade contemporânea, deixaram de ter a menor prioridade. Quis ir e nunca fui a Pristina, no Kosovo, nem a Anchorage, no Alasca, nem a Ulan Bator, na Mongólia. Noutros tempos, tive essas cidades no meu potencial mapa de visitas, embora, devo confessar, nunca tenha feito um grande esforço para concretizar esses sonhos. Outras, como Juba, no Sudão do Sul, ou Skopje, na Macedónia, sobre as quais tenho alguma curiosidade, não me animam a uma deslocação.
Durante muito tempo, tive intenções de ir a Alexandria, mas desisti, por ter pouca graça, ao que me dizem, salvo a nova biblioteca. Nada me mobiliza ir hoje a Hanói, que já fez parte da minha mitologia, tal como aconteceu com Katmandu, no Nepal. E admito, sem dificuldade, que já não tenho paciência para ir a Alice Springs, na Austrália, que achava “o máximo” visitar. Mas, estranhamente, e ali ao lado, confesso que ainda gostava de ir a Hobbart, na Tasmânia. E também a Novosibirsk, na Rússia. E a El Aaiun, no Saara Ocidental. E a Stepanakert, no Nagorno-Karabakh. E ainda sonho ir um dia ao Okussi, em Timor-Leste, ou a Tete, em Moçambique, ou a Svalvard, na Noruega, e, talvez ainda, a Thimphu, no Butão, a Salem, no Oregon dos EUA, ou a Punta Arenas, no Chile. Terei tempo? E pachorra? Se calhar, não, mas fica a nota. Sem qualquer melancolia.
Realizei sonhos “esquisitos”? Claro! Fui ao Nakishevan, no Azerbaijão, a Trieste, na Itália, a Sukhumi, na Abcásia, ao Forte Principe da Beira, na Rondónia brasileira, a Siem Reap, no Cambodja, a Bukhara, no Usebequistão. Eram locais que tinha “em agenda” e que consegui visitar - além das cidades “óbvias”, que conheço quase todas (mas não todas!).
Nos tempos que correm, sou um viajante comedido, sem grandes anseios, sem grandes metas. O que vier, soará, como dizia o meu pai que, aos 91 anos, ainda me foi visitar a Nova Iorque e aos 93 a Viena e que, pouco antes de morrer, aos 97, me disse que só lhe tinha ficado “atravessado” nunca ter ido a Luxor, no Egito. “És um sortudo, subiste o Nilo de barco”, dizia-me. Sou, é verdade.