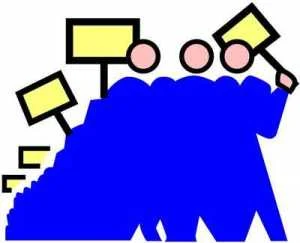Goa foi um tema que sempre me fascinou, menos pela inegável importância histórica da nossa presença na costa indiana e muito mais pela natureza, que sempre vi como muito ambígua, da relação de Portugal com aquela terra e aquela gente. Há uns anos, essa curiosidade levou-me mesmo a passar por lá uns dias. E, devo dizer com franqueza, saí mais confundido do que estava quando lá cheguei.
No final de 2011, passou exatamente meio século desde que a União
Indiana invadiu as últimas possessões que Portugal mantinha na costa do Malabar: Goa, Damão e Diu. Dois enclaves, Dradrá e Nagar Haveli, já
haviam sido absorvidos pelo governo de Nova Delhi, em 1954. Uma curta
batalha militar veio encerrar uma mais longa batalha
jurídico-diplomática, com que o governo ditatorial português pretendia
contrariar o processo descolonizador. A perda do Estado da Índia
representou um trauma muito importante num país que, nesse ano, já havia
assistido às trágicas consequências da sublevação em Angola. O
colonialismo português entrava no seu declínio e, com ele, o próprio regime.
Mas, à
época, diga-se em abono da verdade, nem só os dirigentes do Estado Novo
se recusavam a aceitar o fim do império: grande parte da opinião pública
portuguesa, mesmo dentre quantos se opunham a Salazar, mantinha uma
atitude favorável (ou, pelo menos, não desfavorável) à manutenção dessa parcela do "ultramar português". Mesmo no seio das forças organizadas da Oposição, essa atitude dominava, convém dizê-lo. Recordo-me bem da emoção
provocada em Vila Real, em fins de 1961, aquando da "queda" do Estado da Índia, pela invasão das tropas do "Pandita Nehru".
(Nunca me saiu da cabeça a ideia que criei de que a reiterada utilização adjetivada que a propaganda do regime fazia da palavra "Pandita" - designação elogiosa indiana que era atribuída a Nehru e que, em rigor, significa homem sábio e educado - tinha a ver com a sua similitude sonora com "bandido", tal como, anos mais tarde, aconteceu na América com as expressões "Saddam" e "Satan". Os cartazes com palavras de ordem que diziam "Abaixo o Pandita" e coisas similares assim parece provarem).
Tenho
na memória a visão do meu professor de História, dr. Carlos Sanches, não sei bem
em que qualidade, a discursar na varanda do Governo Civil de Vila Real, para umas
centenas de pessoas que, com patrióticos cartazes, manifestavam o seu pesar pelos acontecimentos.
Eu estava ali com o meu pai, um eterno anti-salazarista, mas que estava
solidário com a defesa do Estado da Índia.
Na altura, a
censura aos media não deixou revelar as dissenções havidas entre o governador-geral
Vassalo e Silva e o executivo de Lisboa, com a "heroicidade" de Salazar a
mandar, da comodidade de S. Bento, o célebre e gongórico telegrama,
redigido para a História e para o "livro branco": "Não haverá nem vencedores nem vencidos, só
heróis e mártires". Lembro-me da emoção com que então se ouvia falar
do afundamento do aviso Afonso de Albuquerque, bem como da "defesa
heróica" levada a cabo pelas forças militares portuguesas em Goa. Só
muito mais tarde vieram a conhecer-se as condições miseráveis em que
estavam as nossas tropas no terreno e no total irrealismo que
representaria uma luta até ao último homem. A vilificação de
Vassalo e Silva (a ironia estadonovista nas conversas sugeria a sua "cobardia", ao tratá-lo como "bacilo salvo") foi a escapatória fácil encontrada pela ditadura para
justificar a derrota militar, a qual, como disse, era uma outra face da inevitável derrota política da teimosia na manutenção do sonho imperial, de que Índia "portuguesa" era a primeira peça do dominó a cair.
Como atrás disse, há uns anos, passei uns
dias em Goa. A Índia era a zona da fixação colonial portuguesa que me
criava (e ainda cria) maiores interrogações. Sabia do modo
ofendido como os habitantes de Goa, Damão e Diu tinham entendido a
aplicação ao território do Ato Colonial, logo no início do Estado Novo. Li, mais tarde, textos escritos por goeses divididos entre a fidelidade a um
Portugal que os tratara menos bem e a atração por uma União Indiana que
lhes abria caminho a uma ligação a um grande Estado descolonizado, então "farol" para muitos povos. E percebera, também, a desilusão que
muitos goeses haviam acabado por sentir, ao verem a sua identidade
violentada por uma integração algo traumática, desrespeitadora da sua sensibilidade cultural e até religiosa. Não
sei o suficiente sobre o assunto para poder ter uma opinião segura, mas
recomendo muito que, quem possa, vá a Goa e por lá tente entender aquela
gente que ficou "a meio da ponte"...
Nessa viagem,
entre outras surpresas, tive uma experiência curiosa. Como acontece com
muitos turistas portugueses, procurei visitar algumas das antigas casas
senhoriais do tempo da Índia "portuguesa", hoje maioritariamente
transformadas numa espécie de museus, as mais das vezes tristes, que espelham uma decadência serena e digna. E onde, em geral, se fala de Portugal sem acrimónia, mas também sem especial nostalgia, como falamos de longínquos membros desaparecidos da família, com defeitos e virtudes. Mais do que de Portugal, do que alguns goeses parece terem saudades é da sociedade goesa do passado, o que são coisas muito diferentes.
A certo ponto
da minha estada, ao aproximarmo-nos de uma dessas casas, fui informado pelo
motorista que ela não era visitável, salvo com diligências que eu não
tinha tempo de empreender. O mesmo motorista chamou-me, entranto, a atenção para
uma senhora que estava a sair da casa, dizendo saber que era ela a
proprietária. Pedi para parar o carro e dirigi-me à senhora, que deveria mais de 80 anos. Fi-lo em inglês. A senhora olhou para mim e, num português
impecável, respondeu-me: "Mas por que é que está a falar-me em inglês? Eu falo
português. Eu fui deputada à Assembleia Nacional!". Chamava-se Lurdes Figueiredo e, logo recordei, fizera parte de um grupo de deputados, de um género a que os brasileiros chamam "biónicos", que haviam sido designados pelo Estado Novo para representar o Estado da Índia, no areópago de S. Bento, ao tempo em que o general França Borges era uma espécie de governador-geral no exílio... em Lisboa. Creio que duraram até ao 25 de abril, se não me engano.
Fiquei sempre com muita pena de não ter tido a oportunidade de falar longamente com aquela senhora, para tentar perceber um pouco mais desse tempo estranho, de um Portugal em transição, em trágico final de império.
Tão estranho que o motorista que me transportava, um hindu que não falava uma palavra de português e que havia nascido já bem depois do fim da Índia dita portuguesa, me pediu para lhe mandar, de Lisboa, autocolantes com o nosso escudo ou a nossa bandeira, para si e para oferecer aos amigos, que achavam muita graça usar nos automóveis. As bizarras malhas que o império tece...