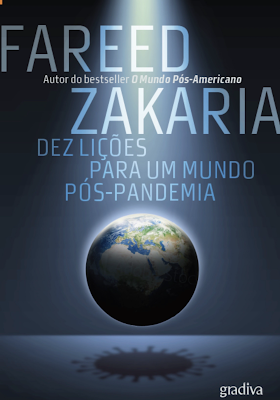O dia ia já longo. Eu madrugara, ainda em Corfu, onde estava, há uma semana, como convidado de Georgios Papandreou, à época ministro dos Negócios Estrangeiros grego, num seminário de reflexão sobre temas internacionais.
Nessa manhã, Georgios tinha-me dado “boleia”, num jato oficial grego, que nos levou daquela ilha até Mostar, na Bósnia-Herzegovina. Relembro, durante a viagem, a paisagem lindíssima, límpida, sobre a costa grega e albanesa, que dificultava a concentração na conversa. De Mostar, onde eu teimei em regressar anos depois, num helicóptero militar alemão, fomos conduzidos a Serajevo, onde ia ter lugar a sessão de lançamento do Pacto de Estabilidade para o Sudeste Europeu. Pousámos no que me pareceu ser um estádio de futebol, ao lado do que ia servir para centro de conferências. Era o dia 30 de julho de 1999.
Essa sessão reunia “o poder do mundo”, para utilizar uma expressão que, na minha infância, ouvia, usada como significado coletivo de quem realmente conta nas decisões. A capital da Bósnia-Herzegovina, cenário de uma imensa tragédia armada no passado, era talvez, nesse dia, a cidade mais bem guardada do globo.
A reunião era organizada e dirigida pelo chefe de Estado finlandês Martti Ahtisaari, que tinha a presidência da União Europeia, e o trauma da situação balcânica tivera o condão de para ela convocar as grandes vedetas da política mundial. 40 países estavam ali presentes, ao mais alto nível.
Juntei-me a António Guterres, que viajara de Lisboa acompanhado pelo secretário de Estado da Defesa, José Penedos. O nosso encarregado de negócios em Serajevo, Luís Barreira de Sousa, por artes que nunca entendi bem, com o argumento de que tínhamos a presidência europeia seguinte, havia conseguido colocar Guterres na mesa principal, junto de Ahtisaari. Com o assento destinado a Portugal dessa forma vazio, cabia-me ocupá-lo, dada a preeminência hierárquica que o secretário de Estado dos Assuntos Europeus tinha sobre o da Defesa.
Sentei-me na mesa, com Jacques Chirac, figura imensa, à minha esquerda, e José Maria Aznar, de fato claro, à minha direita.
Cumprimentei ambos. Tinha falado muitas vezes com Aznar, que me conhecia bem. Embora tivesse estado já em diversas ocasiões e reuniões com Chirac, ele não fazia a mais vaga ideia de quem eu era.
Ainda a sessão se não iniciara e já o meu colega espanhol, Ramón de Miguel, surgira, de trás, a perguntar-me, ao ouvido, a razão pela qual Guterres obtivera o lugar de destaque de que usufruia no topo da mesa. Porque a solidez das razões desse “upgrading” protocolar, que lhe adiantei, não emergiam como muito convincentes, vi Aznar, logo informado, ficar um pouco mais crispado do que de costume, perdendo aquele esgar, que nele faz o lugar de sorriso, no perfil de “señorito” que os espanhóis patentearam para sempre no mundo.
Por uma qualquer razão não evidente, a sessão teimava em não começar. Notei que Chirac ficava cada vez mais nervoso. Olhava para a presidência e fazia uns ruídos de óbvio desagrado. Não dava a confiança de me perguntar nada, mas olhava, de quando em vez, de viés, para mim. “Quem será este tipo?”, devia pensar. A certo passo, sempre visivelmente irritado, talvez não tendo nada melhor para fazer, perguntou-me: “Vous êtes qui?” Declinei a minha função e a ele, sem a menor reação facial, saiu-lhe um: “Ah! Oui! Je vois!”. E continuou agitado, mexendo-se na cadeira. A certo ponto, exasperado, exclamou, num comentário geral, já um pouco alto: “Qu’est ce qu’on attend pour commencer?” E fazia gestos para o distante Ahtisaari.
Olhando com mais atenção à volta da mesa, eu tinha reparado que a delegação americana era das poucas que se mantinha de pé. O lugar dos EUA não estava preenchido. Clinton não aparecia.
Chirac não dera conta desse pormenor. Apenas achava estranho que a reunião não arrancasse. Com aqueles gestos largos que eram os seus, o homem da Corrèze, continuava, com umas onimatopeias à mistura, a “berrar baixinho”, para que se desse início à sessão. E repetia: “Mais qu’est ce qui se passe?”.
Divertido, por antecipação, com a reação que sabia que ia provocar nele, lancei, com um sorriso irónico: “Apparamment, on attend le président des États-Unis”.
O que eu fui dizer! (Eu sabia!). Chirac olhou para mim, furibundo, como se fosse eu o culpado, e exclamou: “Qui?! Ah! Non! Mais c’est pas possible!” E levantou os braços para Ahtisaari, esse mesmo já desesperado com o atraso do amigo americano.
Chirac só sossegou quando Ahtisaari se decidiu, finalmente, arrancar com a sessão. Disse umas primeiras palavras, mas logo suspendeu o discurso, olhando ao longe na sala. Fez-se um silêncio. Todos os rostos convergiram para o lugar onde ele se concentrara. Aliás, não era preciso: os flashes dos fotógrafos faziam uma bateria de luzes no meio das quais, com um sorriso beatífico, surgiu, num andar lento e bamboleante, que fazia lembrar o de Richard Gere, a figura de Bill Clinton.
O presidente americano não dava mostras de estar apressado, embora estivesse farto de saber que estava atrasado. Deu-se mesmo ao luxo, antes de se sentar, de ir cumprimentar duas ou três delegações. Ahtisaari, rotundo e nórdico, sem a menor expressão, esperava, atento e venerador, com o seu discurso suspenso (voltaria atrás).
Figurante apanhado no meio de um palco de ocasião, eu divertia-me imenso em ser testemunha privilegiada da cena. Em especial, mirava o meu vizinho da esquerda, que agora bufava, com nervosismo, um imenso mal-estar, por todo aquele rapto de protagonismo que Clinton conseguira fazer à cena. E ouvia-o rosnar, a “sotto voce”: “Alors! Ça commence ou pas?”.
Finalmente, tudo começou. Os intermináveis discursos.
Ao final do dia, regressámos a Lisboa, num C130 da nossa Força Aérea, numa viagem incómoda, com direito a uma sanduíche. Era tudo muito diferente do salmão com caviar que, nessa manhã, o hiper-inflacionado orçamento militar grego nos tinha proporcionado, a bordo do cómodo Gulfstream.
Passaram mais de duas décadas. Para a História, vale a pena dizê-lo, o Pacto de Estabilidade para o Sudeste Europeu não deixou uma marca por aí além. Tenho alguma pena. Porquê? Ora essa! Porque um mero acaso fez com que eu tivesse estado, como singular intruso, na primeira linha do seu lançamento.