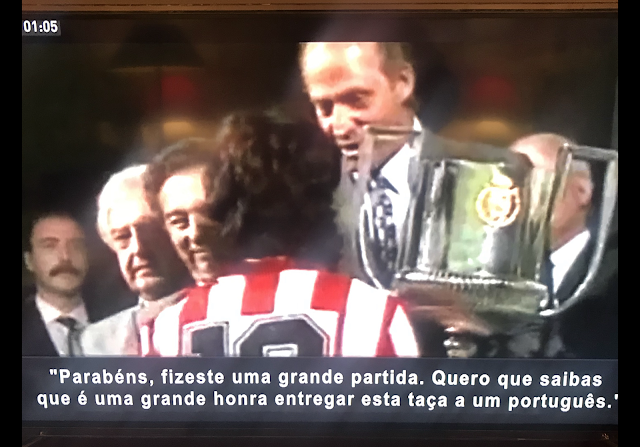Por razões lúdicas e profissionais, sou, de há muito, um utente da hospedagem portuense.
Às vezes, já tenho perguntado a mim mesmo onde é que, por lá (por aqui, porque estou hoje no Porto), já dormi. Hoje, decidi responder.
É claro que, noutros tempos, havia a casa do tio Óscar e da tia Maria, na Ramada Alta, quando vínhamos “aos especialistas” ao Porto.
Noutras vezes, houve a moradia do Eduardo Sá Carneiro, na Antunes Guimarães, com coleções do Tintin pelas estantes, que me faziam adormecer ao acordar do dia.
E também a casa do sogro dele, o professor Pedro Carvalho, e a dona Guiomar, em Oliveira Monteiro, com pequenos almoços cerimoniosos.
Desconto, naturalmente, o meu lar universitário por um ano na rua da Torrinha, umas noites avulsas, e convulsas, no lar Gomes Teixeira, na rua do Rosário, ou o ano passado na “casa da velha”, na Miguel Bombarda, no quarto alugado a meias com o Albano Tamegão.
E já nem conto, claro, a casa da Mariita e do Manel, na Senhora da Hora, de que cheguei a ter chave!
Ou a do meu primo Rui, na Foz, quando nos apetece, porque a família é “estar em casa”.
Apenas aqui quero falar das casas “tarifadas”, com contas redondas ao fim-da-manhã, sem afetividades nem confianças. Coisas de papel passado, com NIF e tudo!
A primeira casa desse género, de que me lembro, terá sido, porventura o “Solar da Conga”, no Bonjardim, uma sugestão (sinistra, diga-se) do Eurico Gama.
Tenho também uma leve memória de uma pensão nos Aliados, à direita de quem sobe, mas pode ter sido apenas um pesadelo.
Houve também, ao que vagamente recordo, uma albergaria (lembram-se do tempo das “albergarias”?), numa rua aos Poveiros, perto daquele estacionamento feiíssimo que por ali há.
Passados muitos anos, nos idos de 80, regressado de Angola, lembro-me de me ter alojado no “Méridien” (em que os portuenses teimam em acentuar a segunda sílaba), agora crismado de “”Crown Plaza”. Foi, ao que julgo, o primeiro sítio “sério” onde me alojei, pagando, no Porto.
Depois, a partir daí, foi uma imensidão!
Estive algumas vezes no “Hotel da Boavista”, tendo alternado entre uma ala antiga (“délabrée”) e uma ala nova (sem a menor graça).
A sorte levou-me depois, em diversas ocasiões, ao “Sheraton”, quer na sua encarnação na avenida da Boavista (hoje “Porto Palácio”), quer à sua (excelente) forma atual, ali ao pé, com o envidraçado algo erótico das casas de banho sobre o quarto.
Ainda na zona da Boavista, descontando o simpático mas incaraterístico “Bessa Hotel” e um (então abaixo do razoável, só com a vantagem de ter uma loja de chocolates Arcádia no rés-do-chão) “Portus Cale Boavista”, preferi várias vezes o quase vizinho “Hotel da Música”, integrado no mercado do Bom Sucesso, francamente bem melhor do que o “Hotel Tuela”, um clássico (muito triste, convenhamos) espaço ali “à beira”.
Não muito longe, no Campo Alegre, fiz os dois Ipanemas: o “Park”, uma das minhas hospedarias costumeiras (ainda na passada semana lá dormi), e o Ipanema Campo Alegre, simpático “ma non troppo”, apenas com a vantagem de ter o “Capa Negra” à mão de semear.
Mais junto ao Douro, o “Pestana”, frente ao cubo, já foi, durante anos, o “meu” hotel na cidade, não obstante o estacionamento quase impossível. Até lá tive um quarto preferido! Depois, o hotel “endoidou” nos preços e eu disse-lhe adeus.
A esse nível de dispêndio, passou a valer a pena o clássico “Infante de Sagres”, a que não voltei desde que foi remodelado, com medo de que mantenham o bar tão mal-tratado como da última vez em que por lá dormi: um susto!
Se quiserem uma experiência diferente (e mais não digo!), ali pela Restauração, quem desce do Hospital de Santo António para o Rio, experimentem a diversidade do “Torel”! Um chá na sala envidraçada, ao fim da tarde, pode ser um belo momento.
Outras experiências? O “Dom Henrique”, junto ao Silo Auto, sem o menor interesse, para além da vista magnífica do bar.
Cómodo, mas sem qualquer graça, é o “Vila Galé” da Fernão de Magalhães. Várias vezes lá fiquei, numa delas no andar de topo, com uma vista soberba sobre a cidade. Mas foi tudo o que dali me ficou.
Numa das ocasiões em que dormi no “Intercontinental”, no passeio das Cardosas, no fundo da Praça Dom Pedro IV, no fundo dos Aliados, recordo que me saiu em rifa um quarto de esquina (sobre a estação de São Bento, a 31 de janeiro/Santo António e a praça), com uma vista deslumbrante. Mas aqueles corredores sem gente lembravam-me, sinistramente, o “Shinning”!
E mais? Dormi também num “Porto Trindade”, bem simples, numa noite em que cheguei inopinadamente de Paris.
Também pernoitei num “Vila Galé Ribeira”, de que me não queixo, entre a Alfândega e Massarelos.
E de duas noites no Eurostars Centro, junto à Brasileira (avisaram, mas eu não acreditei, que, a partir das oito horas, a classe operária entrava em ação numa obra vizinha!).
Mais recentemente, tive uma experiência, bastante agradável, no renovado Grande Hotel do Porto, em Santa Catarina.
Mas é isso “apenas” que conheces do Porto, estarão a perguntar-se os meus amigos, alguns “da onça”?
Mas há coisas que ainda não conheço, desculpem lá! Confesso que ainda não dormi no luxuosíssimo Monumental dos Aliados, no Pestana da Brasileira, no Porto Bay das Flores (nem no Porto Bay Teatro, não obstante o clamor do meu amigo e proprietário Bernardo Trindade), nem no Vila Foz, na Foz, de que muito me falam agora.
Imperdoável, já sei!, é não ter nunca ficado do Yeatman, em Gaia, onde já refeiçoei algumas vezes, mas que acho muito caro.
Mas, já que falamos em “arredores”, anoto que pernoitei várias vezes no “Palácio do Freixo”, no dito Freixo, e, para nunca mais, no “Sea Porto”, em Matosinhos, um falso “quatro estrelas”.
Mas o que é que estás a fazer agora no Porto?, perguntava-me um amigo curioso, há pouco. Onde estás a dormir?
Muito simplesmente, no “Eurostars Heroísmo”, na rua com o mesmo nome, naquele que é o meu pouso preferido no Porto, sem arrebiques nem pretensões, um quatro estrelas que, de há muito, considero a melhor relação qualidade-preço da cidade e arredores. E não me fazem o menor desconto por estar aqui a fazer publicidade deles! A sério!
O “Eurostars Heroísmo” (na imagem) tem uma garagem soberba, fica bem perto da da estação ferroviária de Campanhã e a dez metros (juro!) de um dos melhores lugares para se comer no Porto - a “Cozinha do Manel”, do meu amigo José António. O hotel fica também a cinco minutos de carro do meu local de trabalho no Porto.
E, se quiserem, há outras opções restaurativas por ali, como a “Casa Nanda”, na rua da Alegria. E ainda sobram saudades da “Casa Aleixo”, no fundo da rua.
Se acaso ainda não estiverem satisfeitos, peçam-me mais: poderei dar ainda alguma dicas mais sobre onde dormir bem no Porto! Conheço “mal” esta bela cidade, como repararam, mas farei um esforço!