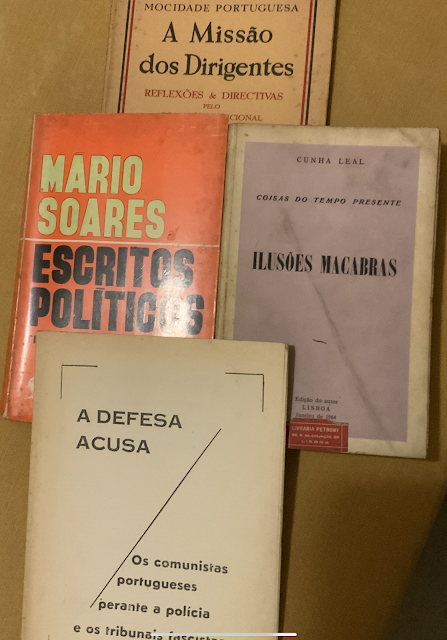Seguidores
Se quiser ser informado sobre os novos textos publicados no blogue, coloque o seu email
quinta-feira, julho 16, 2020
Engravatar os dias
quarta-feira, julho 15, 2020
Severino Cavalcanti
Haja coerência!
Lembram-se?
Mistura de sentimentos
terça-feira, julho 14, 2020
Ao fresco
segunda-feira, julho 13, 2020
Palermices
domingo, julho 12, 2020
sábado, julho 11, 2020
sexta-feira, julho 10, 2020
A vida como ela está!
Não sei o que te diga
A esperança europeia
quinta-feira, julho 09, 2020
Melros e coisas assim
Alfredo Tropa
quarta-feira, julho 08, 2020
Amigos, amigos
terça-feira, julho 07, 2020
segunda-feira, julho 06, 2020
Jogos com fronteiras
domingo, julho 05, 2020
Fim do dia
Bolton
Faz Figura
sábado, julho 04, 2020
Diplomacia
A anunciada atitude britânica face ao turismo com Portugal revela o que parece ter sido um lamentável viés, isto é, a utilização de índices que abertamente desfavoreceram o nosso país, em paralelo com outros. A ironia, que poderia ser utilizada se não se tratasse de um caso com sérias implicações económicas, é que, comparativamente com o Reino Unido, a situação sanitária portuguesa, sendo menos brilhante do que já foi, continua a ser bem mais positiva do que a que por lá se vive.
Tudo indica que Portugal tem toda a razão do seu lado e que o Reino Unido a não tem. Percebo assim perfeitamente que o ministro dos Negócios Estrangeiros tenha tido a reação que teve, porque era importante fazer chegar a Londres um sinal político forte da nossa insatisfação. Ele ficou dado e bem, como Augusto Santos Silva sabe fazê-lo. E o mesmo foi ecoado, com brilho, por um alto responsável político do principal partido da oposição.
Mas isto não é o Mapa Cor-de-Rosa! Haja bom senso e não se enverede por movimentos públicos de desagravo patrioteiro. Agora, começa um novo tempo: pelo menos por quinze dias (tempo em que se fará a eventual revisão da medida), tudo continuará nos termos que Londres anunciou. Há que encetar - e estou certo que isso já está a ser feito - um rápido trabalho de sensibilização, com base num diálogo sereno, para demonstração rigorosa das nossas razões, com base em critérios técnicos e científicos, credíveis e insofismáveis. É assim, e só assim, que se poderá conseguir reverter a situação. A diplomacia é isso.
sexta-feira, julho 03, 2020
Ainda existe “a mais velha aliança”?
quinta-feira, julho 02, 2020
Direita, extrema
Putin
Amália
A esperança verde
quarta-feira, julho 01, 2020
O futuro do Turismo
terça-feira, junho 30, 2020
Requiem para o Aleixo
segunda-feira, junho 29, 2020
domingo, junho 28, 2020
Corrida
sábado, junho 27, 2020
sexta-feira, junho 26, 2020
Gerações
Fronteiras
Pin Pan Pum
Posso estar errado...
Haveis...
quinta-feira, junho 25, 2020
Dilema
Banco de Portugal
Um adeus especial
quarta-feira, junho 24, 2020
O Brasil em discussão
Que se passa no Brasil?
Mergulhados nas especulações sobre a pandemia, que arruina rotinas e abala certezas, os portugueses, quando, pela noite, olham as televisões, ouvem falar do Brasil. E o que é que fixam? A ideia de um país dirigido por um “doido”, com pulsões anti-democráticas, rodeado de figuras “sulfurosas”, amparado pelos militares, que dia a dia dá mostras de não estar à altura das responsabilidades exigíveis a um líder de um grande país, agora sob uma imensa tragédia sanitária. Com mais ou menos nuances, este é o retrato que nos chega do outro lado do Atlântico.
Durante muitos anos, Jair Bolsonaro foi um deputado risível, que obtinha destaque mediático pelos ditirâmbicos elogios que fazia à ditadura militar (1964-1985). Mau orador, “despreparado”, como por lá se diz, sem obra parlamentar, era uma “nonentity” no panorama político local. O sistema brasileiro, por mecanismos de representação uninominal que não cabe aqui descrever, dá aso à eleição de alguns “cromos”. E Bolsonaro era isso mesmo, um cromo. Até um dia.
Foi um conjunto muito excecional de circunstâncias, que teve essencialmente a ver com a rejeição profunda dos tempos do PT, visto como o centro do processo de corrupção política que marcou a gestão do Brasil, que acabou por polarizar o voto naquela figura de discurso primário e populista.
Mas foi também o descrédito da direita democrática tradicional, sem candidatos tidos como capazes de afastarem o “petismo” da área do poder, que levou gente sensata e equilibrada a optar pela escolha de uma figura com o recorte de Bolsonaro. Era a lógica do “depois logo se vê!”
terça-feira, junho 23, 2020
Duas pessoas
"Olhe que não, olhe que não"
A minha conversa semanal com Jaime Nogueira Pinto, desta vez falando de jornais. Pode ver clicando aqui .