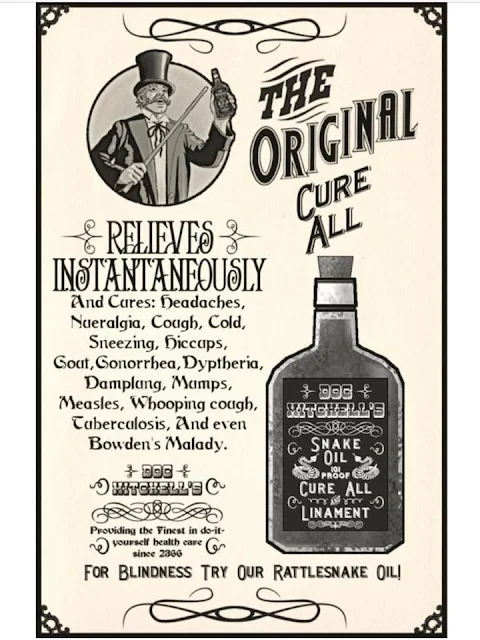Vou ser sincero. Habituei-me desde sempre a uma Espanha unida, não porque tenha um gosto particular pelo atual formato do nosso único vizinho terrestre, mas porque fui profissionalmente “treinado” para lidar com “nuestros hermanos” nesse modelo.
Na vida diplomática, rotinamo-nos a viver com as circunstâncias. Na vida dos povos há sempre um “comodismo” que limita a vontade de se verem confrontados com o novo. Em política externa, isso é visivelmente assim.
A Espanha una é um parceiro que a História nos forçou a conhecer razoavelmente bem. Passado o tempo das desconfianças identitárias, disfarçadas no olhar de viés das alianças de oportunidade, em tempos de exceção autoritária, a entrada comum para a Europa política, num registo democrático, limitou fortemente o risco das crises, encaixadas que estas foram no normativo integrador, impulsionado pelo exterior.
A Espanha, contudo, continua a não ser um interlocutor fácil, sempre que entende que estão em causa interesses próprios que reputa como essenciais. Da gestão dos rios comuns a Almaraz, dos limites marítimos de pesca à definição geopolítica e económica das águas atlânticas, do protecionismo por via de expedientes administrativos ao egoísmo na gestão das redes de energia, Madrid tem mostrado que pode, de um momento para o outro, transformar a normalidade num problema.
O interesse comum é, como resulta óbvio, tentar atenuar todas as tensões conjunturais que possam emergir. Nesse esforço, contudo, Portugal revela-se, em regra, bastante mais empenhado do que o seu vizinho, talvez porque este se sente confortado pela maior força relativa. Tentamos não magnificar os dissídios e procuramos quase sempre (mas nem sempre) controlar a expressão mediática dos confrontos. Não nos assustam os conflitos, até porque, no quadro internacional sereno em que nos movemos, sabemos que os podemos ganhar, desde que a razão claramente nos assista. Mas procuramos, sabiamente, evitá-los, porque entendemos que a sua cumulação pode acarretar desagradáveis sinergias negativas. Não é essa, frequentemente, a postura de Madrid. Não é um drama, mas pode converter-se num incómodo conjuntural.
A nossa relação bilateral com a Espanha é hoje, contudo, francamente saudável e, felizmente, não depende de qualquer sintonia ou cumplicidade político-ideológica entre os dois lados da fronteira. O espaço para entendimentos ultrapassa assim, em muito, a margem provável para a emergência de dissídios.
E o futuro? E se a Espanha entrar em ebulição? E se o centralismo, potenciado pelo nacionalismo que sopra de Castela, não resistir à tentação de partir para o embate com o secessionismo e enveredar por uma aventura interpretada como uma “ocupação” pelo orgulho catalão? E se as ruas de Barcelona se converterem à agitação, em moldes que redundem em cenas de violência, da qual saiam vítimas que, como bem se sabe, podem ser “a faúlha que incendeia a pradaria”, como alguém disse um dia?
Não há muito que, por ora, possamos fazer. De uma coisa estou certo: no atual estado de coisas, devemo-nos manter fiéis ao diálogo exclusivo com Madrid. Se e quando alguma coisa vier a ser feita do exterior, intervindo na questão interna espanhola, só deveremos apoiá-la desde que tal não seja desconfortável para as autoridades centrais espanholas. Qualquer sinal de estímulo da nossa parte a uma “balcanização” da Espanha, além de nos colocar perante a natural reação indignada do seu governo, representaria um salto irresponsável no “escuro” político. Bem basta se isso vier, de facto, a acontecer. Nesse caso, lá teremos de abandonar a nossa “preguiça” estratégica e descobrir soluções para os novos problemas. Estar a antecipá-los seria convocar fantasmas antes do Halloween, e este é só para a semana.