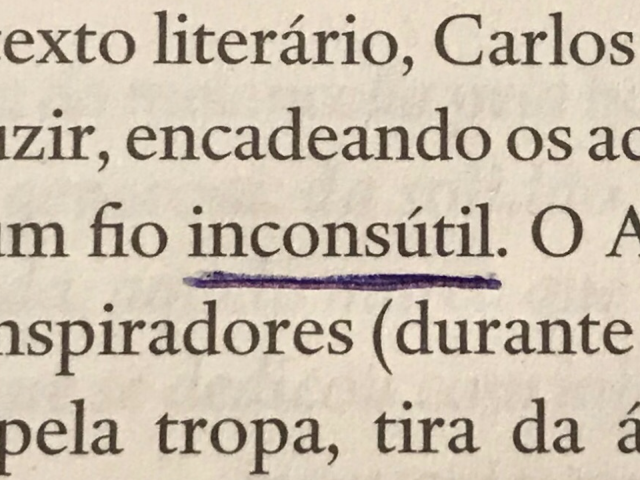Nunca concluí, em definitivo, se era uma “fèzada” sem sentido ou se havia algo de realista naquela mania do meu pai. Todos os Verões, habituei-me a vê-lo, diariamente, durante quase um mês, a gargarejar com água do mar. Verdade seja que, tendo ele vivido quase até aos 100 anos, sem que alguma vez lhe tivesse pressentido o menor achaque na garganta, talvez devesse ter assentado em que a razão era bem capaz de estar do seu lado.
Essas abluções tinham lugar, em regra, nas nossas idas matinais à praia, para manifesto desagrado da minha mãe, que entendia aquela coreografia muito pouco elegante, mesmo se executada de forma discreta. Nos dias em que, sobre a nossa Viana das férias, caía nevoeiro ou alguma chuva, o “vício” tinha outro modo de se concretizar. O meu pai contratava um “moço de recados”, figuras muito típicas das cidades de província, que executavam tarefas a troco de “umas coroas”.
O rapaz parecia que adivinhava, pelos humores do clima, os dias em que o meu pai não ia à praia e logo passava por casa da minha avó a perguntar se “o senhor Costa quer que lhe traga a água”. Uma garrafa vazia rolhada surgia então, acompanhada da recomendação estrita de que a recolha fosse feita num determinado local da Praia Norte, que o meu pai recomendara ao miúdo, como o lugar mais adequado para a “colheita”.
Da casa da minha avó à Praia Norte a distância era ainda considerável, agravada pela circunstância de essas deslocações serem feitas, precisamente, em dias em que o clima estava mais agreste.
Um dia, teria eu uns oito ou nove anos, testemunhei a cena da entrega da garrafa por intermédio de uma empregada e logo vi o rapaz, que não teria mais de 15 anos, sair apressado a caminho da rua de Altamira. Instantes depois, contudo, vi-o infletir em direção à doca comercial. A suspeita criou-se-me: e se ele não fosse buscar a água à Praia Norte, como eu sabia que o meu pai sempre recomendara, e se limitasse a encher a garrafa na doca, onde toda a porcaria dos navios era despejada?
Segui-o à distância, tanto quanto a minha liberdade de movimentos fora de casa, com aquela idade, permitia. Passou a doca comercial (pronto, era um falso alarme!) e vi-o rumar à doca dos pescadores, que, à época, era bem mais batida pelo mar do que é hoje. E, claro, foi aí que ele “despachou” a encomenda, enchendo, num dos acessos de pedra, a garrafa com a água marítima que o meu pai iria usar para essa sua ritual higiene bucal.
O líquido recolhido seria com certeza bem mais límpido do que o da doca comercial, mas incumensuravelmente mais poluído do que seria se acaso fosse recolhido na Praia Norte, ali entre os rochedos, para onde, em algumas tardes, eu era levado a “apanhar iodo”, terapia preventiva que os pediatras então aconselhavam. O rapaz poupava assim uns bons dois quilómetros, recebendo os trocos como se os tivesse feito.
Fiquei então dividido sobre o que fazer perante a descoberta do truque. Deveria avisar o meu pai, que ficaria bastante desiludido e, talvez, sem outras soluções imediatas para a recolha dessa sua ansiada água do mar? Ou escolher não dizer nada, confiando em que a água batida pelo mar, ali ao pé das traineiras, fosse, apesar de tudo, de uma qualidade aceitável? Optei então por esta última solução, talvez com íntima pena do rapaz, embora interrogando-me muito sobre se estava certo.
Muitos anos mais tarde, em Vila Real, já no final da vida do meu pai, quando ele já deixara, há muito, de fazer os seus gargarejos marítimos, falou-me das comprovadas virtudes desse exercício passado, lembrando a ajuda do miúdo da Ribeira. Eu, um tanto cobardemente, calei-me sobre o que sabia daquela água, pelos vistos excelente.
Há minutos, ao olhar, da varanda do meu quarto do hotel, as rochas eternas da Praia Norte, ao vê-las surgir à tona, pelo fim da preia-mar, concluí que, afinal, talvez não me tivesse enganado no meu juízo: fiz bem em não ter avisado o meu pai, cuja otorrínica saúde, de facto, nunca sofreu com isso o menor abalo. E foi assim que desfiz, finalmente, o meu dilema.