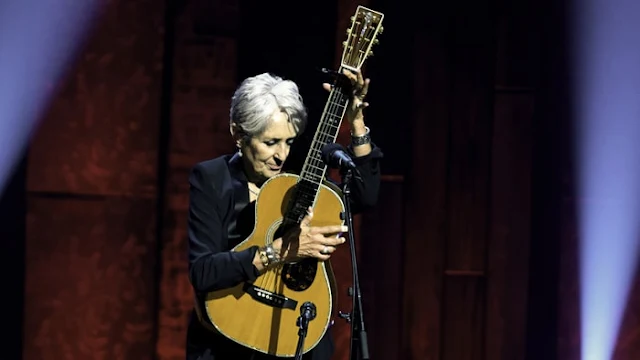Poucas semanas após a minha chegada ao Brasil como embaixador, fiz uma visita ao meu colega dos Estados Unidos. Em qualquer parte do mundo, os representantes de Washington são sempre das mais relevantes figuras no corpo diplomático local, atenta a importância do seu país.
O meu colega americano era um homem cordial e franco. Estava a pouco tempo de sair do posto, pelo que se sentia talvez mais à vontade para dizer o que lhe ia na alma. A propósito da vida política brasileira, deu-me uma definição curiosa sobre o modo como via a dicotomia entre o ambiente social e empresarial de S. Paulo e o microcosmos do poder em Brasília, à época (estávamos em 2005) dominado pelo PT de Lula, em aliança com o PMDB de Sarney. Para ele, com ironia, havia dois "mundos" no Brasil: o "Free State of S. Paulo" e a "People's Republic of Brasilia"...
Meses depois, os papéis inverteram-se. Um novo embaixador americano veio ver-me e, profissional à sua maneira, trazia consigo uma espécie de "check-list" de assuntos sobre os quais pretendia obter a opinião do seu colega português - os embaixadores portugueses na capital brasileira, podendo não ser os mais poderosos, são quase sempre dos melhor informados e a sua opinião conta imenso junto dos seus colegas. E até os americanos sabem isso...
Uma das curiosidades do meu novo colega era tentar perceber "quem era quem" na decisão, em matéria de política externa, no poder brasileiro. Em particular, confundia-o o papel relativo do ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, e o do Assessor Internacional do presidente, Marco Aurélio Garcia.
(Nada que devesse ser estranho a quem vinha da Washington: a história da política externa americana também é feita da regular tensão entre o ministro - "Secretary of State" - o assessor da Casa Branca - o "National Security Adviser".)
Disse-lhe o que entendi que lhe poderia dizer. Expliquei que se tratava de um processo dinâmico, que havia começado por alguma dualidade entre as duas personalidades, com algum potencial de conflito, até rapidamente se chegar a um ponto em que Amorim havia garantido, com alguma habilidade tática, o pleno controlo da máquina externa, com Garcia confinado a dossiês mais pontuais, em especial ligados à área sul-americana, onde o seu conhecimento e contactos eram bastante substanciais.
Se Marco Aurélio Garcia alguma vez teve intenções de ser um poder sombra junto do Itamaraty (as "Necessidades" brasileiras), e há sinais de que isso pode ter acontecido nos primeiros tempos do primeiro mandato de Lula, a eficácia funcional de Celso Amorim rapidamente se impôs, tendo isso ficado bastante evidente quando o seu papel interventivo se tornou imprescindível, na ocorrência de algumas crises com países vizinhos do Brasil, que Garcia foi incapaz de evitar. Uma delas, seria com a Bolívia de Evo Morales.
Um dia, num almoço a dois no jardim da nossa embaixada em Brasília, Marco Aurélio Garcia contou-me a conversa "surreal" que havia tido, em La Paz, com o recém-nomeado ministro dos Negócios Estrangeiros daquele país. Descreveu-mo como uma figura estranha, com um mantra "filosófico", de quem "tinha os pés bem assentes no ar", num discurso bizarro, errático e metafórico, quase incompreensível. Marco Aurélio comentava, no meio de gargalhadas: "Você conhece-me, Francisco! Imagina que, quando quero, sou capaz de rivalizar em efabulações e imagens ligadas ao universo onírico, mas o homem batia-nos a todos! Saí de lá sem perceber nada e com medo de me ter enganado naquilo em que julguei tê-lo percebido..."
Marco Aurélio Garcia morreu ontem, aos 76 anos. Era professor universitário, uma figura intelectual muito interessante. Depois de sair do Brasil, só o voltei a encontrar num almoço em Paris, aquando de uma conferência. Mantinhamos uma excelente relação pessoal, muito embora Portugal (e a Europa) estivesse longe das suas preocupações - e, infelizmente, também da sua afetividade.
Com o secretário-geral do Itamaraty, Samuel Pinheiro Guimarães, e o então ministro Celso Amorim, Marco Aurélio Garcia constituiu a "troika" informal que desenhou a política externa de Lula. A qual, a meu ver, teve um apreciável êxito e prestigiou imenso o Brasil, opinião que sei que não é partilhada por muitos amigos, nomeadamente no serviço diplomático brasileiro, alguns dos quais têm essas três figuras no seu rol de "inimigos de estimação".