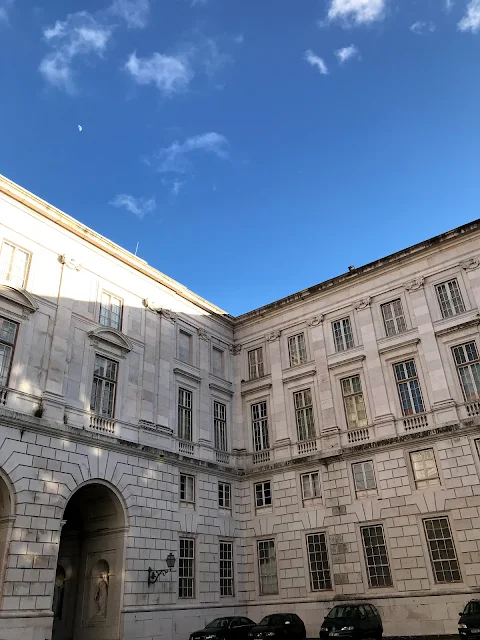Conheci-o pessoalmente no Brasil, numa prova de azeites, em São Paulo, creio que em 2005. Antes, testara já a sua arte, num jantar, num restaurante em Cascais, o “100 Maneiras”, nos escassos meses em que por lá passou. Pareceu-me então ter “muito jeito”, mas, à época, não fiquei excessivamente impressionado. Um dia, um ou dois anos mais tarde, jantei com uns amigos no “Tavares”, onde ele era já então o chefe. Boa impressão confirmada, mas ainda não deslumbrante. O “defeito” era afinal meu: aí viria a nascer a sua primeira “estrela”, fruto de muito trabalho e apuramento profissional.
Depois, comecei a assistir ao seu notável “desmultiplicar” comercial. Num registo descontraído, mas bom, passei a almoçar várias vezes no “Cantinho”. E gosto bastante, sou cliente. No seu “grande salto em frente”, o “Belcanto”, onde já fui diversas vezes (não vou mais porque é caro!), fiquei, final e completamente, convencido. Ali, José Avillez, porque é dele que eu falo, provou e prova a cada dia ser um excelente chefe, um grande artista da mesa. Ah! E também gosto muito da elegância do seu “Café Lisboa”. E, do mesmo modo, aprecio o cosmopolitismo dos dois espaços complementares do seu “Bairro”, uma bela ousadia profissional. E também acho excelentes as pizzas da sua “Pizzaria”. Está também muito bem o “Cantinho” da Mouzinho da Silveira, no Porto. Mas não, ainda não fui ao “Mini-Bar”, nem ao “Beco”, nem à “Cantina Peruana”, nem à “Tasca Chic”, nem à recente “Pitaria”. É que acompanhar o ritmo da “ cissiparidade” de José Avillez é, como dizem os alentejanos, uma “canseira”, embora muito boa...
José Avillez é hoje uma glória segura da cozinha portuguesa. Foi o primeiro chefe português a obter duas estrelas no “Guide Michelin” e agora, há dias, recebeu o prestigiadíssimo “Grand Prix de L’Art de la Cuisine”, atribuído pela Academia Internacional da Gastronomia (AIG).
Em particular, fico muito satisfeito por este último reconhecimento, que coroa aquele que a própria Academia Portuguesa de Gastronomia, membro da AIG, de cuja direção faço parte, lhe fez em devido tempo, ao nomeá-lo para os seus mais altos prémios e ao ajudar a promovê-lo internacionalmente. Apenas e porque ele o merece, amplamente.
O turismo português beneficia hoje imenso com o facto do nosso país começar a estar colocado já nas rotas da grande gastronomia à escala global. Os nossos chefes “estrelados”, mas igualmente os restaurantes nacionais no seu todo, ganham um impulso muito importante pelo facto de Portugal ser hoje conhecido com tendo mesas de excelência. E, de caminho, ganham os hotéis, há mais emprego, a indústria turística cresce e entram receitas para o país.
(Mas há quem perca com isto? Claro que sim! Perdem os céticos, os cínicos, os invejosos, os que desdenham o mundo da gastronomia, os mal-dizentes profissionais, os mesquinhos cultores da mediocridade atávica. Para esses, há sempre uma solução: deixá-los a falar sozinhos.)
Parabéns, José Avillez. E obrigado!