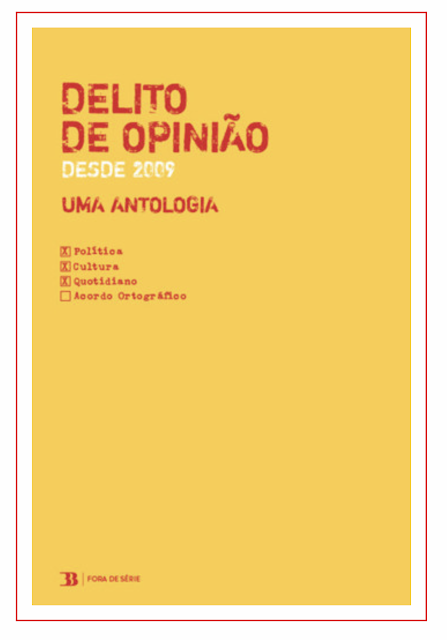Abro a janela do meu quarto, aqui por Vila Real, e, em letras garrafais, vejo escrito o meu nome, o nome da minha familia. É uma farmácia, aberta todos os dias, a uns escassos metros, que, desde há meses, passei a ter por vizinha.
Hipocondríaco como sou, este é um sonho de vida finalmente realizado. Neste aspeto, sei que convoco aqui a inveja do nosso presidente da República, também ele sempre pronto a opinar sobre medicamentos. Tal como ele, sempre que necessário, “receito” medicamentos, com elevado critério, a quem se queixa de alguma coisa e tem o bom-senso de seguir os meus conselhos.
(Um dia, recordo-me, cheguei mesmo a dar dicas farmacopédicas a um médico amigo, que olhou para mim com uma cara espantada. Em defesa, perguntei-lhe: “Nunca mandaste bitaites sobre política internacional? Tenho o mesmo direito...”).
Tenho contudo uma vantagem sobre o mais alto magistrado da nação: Marcelo (da mesma forma que Filipe II, no poema de Gedeão, não tinha um fecho-éclair) não se pode gabar de ter uma farmácia tão “à mão de semear” como a que eu tenho por aqui. Essa é que é essa!
Mas nem tudo são alegrias. O cerceamento progressivo das liberdades privadas, que alguns confundem com modernidade, matou-me, neste domínio, pequenos prazeres dos quais, há décadas atrás, podia usufruir. Eram tempos em que vivia no estrangeiro e, passando por Vila Real, visitava aquilo que foi a outra encarnação geográfica deste mesmo estabelecimento.
Vou fazer uma confissão, porque o eventual cúmulo de delitos já prescreveu, para os presumíveis réus envolvidos: eu aproveitava o que sabia serem as horas mortas de venda da farmácia e, com a cumplicidade de um empregado, amigo e complacente, permitia-me o discreto acesso às prateleiras “lá de dentro”. Mas, antes, tinha de ter a prévia certeza de que a “dona da casa” estava fora, porque nunca, com ela presente, eu teria a “lata” de usar daquela liberalidade.
Ultrapassando as dificuldades de aquisição que ia tendo na estranja, onde havia essa picuinhice permanente que era a necessidade de receitas médicas para certos produtos, atulhava-me então de “uma coisa que está a sair muito para o estómago” ou de “um antibioticozinho que dá para quase tudo” ou de “um xarope de que dizem maravilhas” e muitas outras novas e velhas mezinhas para as várias maleitas potenciais de que poderia vir a sofrer, nesses destinos para onde me tinham mandado para bem da pátria. Apenas “coisas para o sono ou desse género” me estavam vedadas, sendo essa a “red line” deontológica do meu cúmplice.
Era então um deleite poder passear por aquelas prateleiras, adquirindo as novidades e reforçando os “clássicos”. Não é impunemente, sem este rico saldo de experiências, que se acaba uma vida profissional nas delícias do retalho...
Tomava tudo aquilo que comprava? Nem pensar! Quantas dezenas de caixas de medicamentos, que me custaram bons milhares escudos (era esse tempo!), não acabaram por ir, intocadas, para o lixo - tanto mais que faço parte do grupo de ingénuos, como sabe quem me conhece, que é incapaz de tomar um medicamento nem um minuto que seja depois do final do mês em que ele expira o seu prazo indicativo de validade.
Esta também é uma caraterística do hipocondríaco “profissional”, o qual, para ser verdadeiramente feliz, tem de ter uma doençazita de vez em quando, sem o que deslegitimaria a sua mania. E eu, para minha “felicidade”, lá vou tendo algumas.
Tenho agora, como disse, a nova farmácia aqui ao lado. É uma sensação confortável, podem crer. Mas, nos dias de hoje, ela passou a ter para mim zonas inexpugnáveis, travadas por um balcão por onde rodam umas jovens senhoras de sorriso simpático, que só vaga e progressivamente me vão reconhecendo, mas que, imagino, serão escassamente sensíveis a eu poder vir a tirar qualquer vantagem da circunstância do meu nome coincidir com o da casa onde trabalham. Não me estou a ver, nos dias que correm, a ser autorizado a abrir aqueles “tesouros” que são as gavetas brancas da botica (usam-se muito, vejo eu, guloso, à distância, umas inclinadas), podendo escolher “o que me der na veneta”, seduzido pela exaltante literatura das bulas. Foram grandes tempos!
A liberdade já não é o que era!