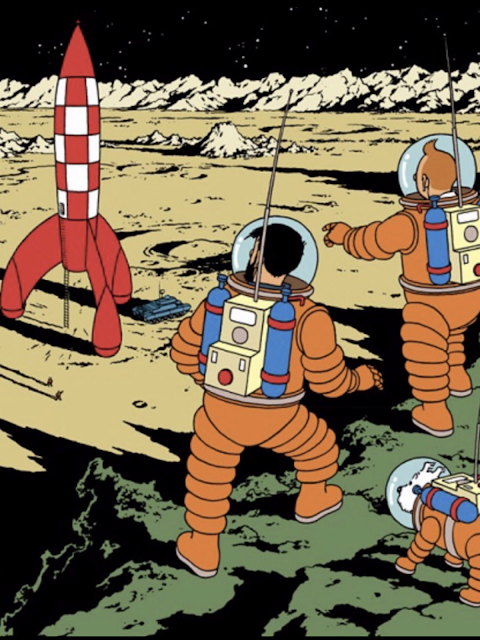Estou aqui na praia, de iPhone na mão, a teclar e a olhar o mar, pensando que a temperatura da água é, de facto, um excelente pretexto para hoje não ir nadar.
“Nadar”, aliás, no que me toca, foi sempre uma força de expressão. Nado pessimamente, nunca tive o menor jeito nem fôlego para me aguentar muito na água. E como só gosto dela morna, sou pouco dado a banhos “revigorantes” em mares menos cálidos, que sempre vi como coisa de gente masoquista, prenúncio mesmo de possíveis constipações.
Na minha terra, em Vila Real, na infância e juventude, não havia nenhuma piscina. Aprendia-se a nadar no rio, no lugar do Codeçais. Mas o “se” não me era reflexo: nunca me deixaram ir dar banhos por lá, naquela proteção dada a filho único que, bem vistas as coisas, sendo algo chatota, não deixou de ter o seu quê de confortável, no saldo final.
A minha instrução de natação, por muito limitada que tenha sido, foi assim toda feita em Viana do Castelo, onde, nos agostos, íamos passar quase um mês de férias. Nesse tempo, acreditem!, Viana também não tinha nenhuma piscina, salvo a do hotel de Santa Luzia, onde, por 2$50, eu ia a banhos com pé, rodeado de ingleses rosados e sardentos, comigo com escasso dinheiro no bolso que, para além de pagar o funicular, apenas dava para comprar um mazagran (já ninguém sabe o que isso é). Não sendo factível aprender por ali a nadar, muito menos o era nas ondas bravas do Cabedelo ou nas poças rochosas da Praia Norte, mesmo com a maré a jeito. Por isso, era na doca comercial que, naquele tempo, se davam as primeiras braçadas.
Joaquim Baptista, um dos mais antigos amigos do meu pai, acompanhado por uma figura muito conhecida da cidade, Amadeu Costa, assegurou ali, por muitos anos, uma improvisada escola benévola de natação, que funcionava no Verão e na qual, um dia, decidiram inscrever-me. Nunca foi coisa que me entusiasmasse muito, mas o que tinha de ser tinha a muita força da determinação paterna. Despiamo-nos num barracão de madeira e, em fila indiana, lá descíamos, a medo, umas lodosas “escadinhas”, para uma meia-hora que recordo de relativo tormento.
Nos dias de hoje, o navio Gil Eanes, fundeado em permanência na doca de Viana, quase que esconde essas “escadinhas”. Trata-se de degraus de pedra que baixam do alto da doca para a água. São simétricas, uma em frente à outra. Se a maré que entra do mar está baixa, a distância entre os últimos degraus fora de água é pequena, aí uns dois metros. Mas se está alta, esses metros alargam-se. Nunca muito, claro, mas era então uma distância que parecia imensa para quem era testado a fazê-la numa atabalhoada tentativa de nadar de bruços ou no crawl precipitado, que chamávamos, “à cão”.
De início usávamos uma prancha, depois éramos “pescados” com (creio) umas cordas, enquanto fazíamos os movimentos e, finalmente, quando já mais práticos, éramos largados à nossa sorte. A água em que tentávamos nadar estava cheia de lixo dos barcos, que íamos afastando com a mão, evitando que certas “peças” se nos acercassem da cara. Imagino que, nos dias de hoje, deva até haver diretivas europeias que desaconselhem semelhantes imundícies, mas então era assim e, ao que julgo, ninguém terá ficado doente por virtude desse insólito “ecosistemema” aquático. A glória das glórias era conseguirmos chegar ao outro lado da doca, o que era saudado por palmas da molhada de pais e familiares que assistiam à proeza dos seus rapazes e raparigas. Fi-lo uma vez, que me lembre. Devo-me ter cansado para sempre...
As lições nas “escadinhas” eram ao final da tarde e porque a casa da minha avó (hoje sede da Fundação Maestro José Pedro, lá por Viana) era em frente à doca, recordo-me de, nos primeiros dias, passar por lá, um pouco antes, para ver em que paravam as modas em termos da “enorme” distância entre as “escadinhas”, por via dos humores das marés.
Com todos esses medos e, seguramente, algumas oportunas baldas, a verdade é que fiquei, até hoje, num registo bem sofrível de nadador. Já não vou a tempo para corrigir esta falha na minha formação, a qual, aliás, nunca me preocupou por aí além (quem me conhece sabe que sou pouco dado a preocupações eternas). Para o que interessa: sou hoje um comodista “nadador” de piscinas, mergulho pouco e mal, no mar quase só “passeio” e dou umas braçadas, sempre que possível em lugares “com pé”. Enfim, um “desportista” pouco ambicioso, como já perceberam.
E como hoje a água está (de facto) fria, tenho um excelente pretexto para ficar aqui sentado, a esturricar as banhas pela tarde, neste belo sol amaciado pelo vento, até que o João toque a corneta, anunciando, daí a pouco, a chegada da caixa com as bolas de Berlim da praxe. Com creme, porque as minhas últimas análises estavam excelentes e só se vive uma vez.
Bom verão, para quem aqui me lê!