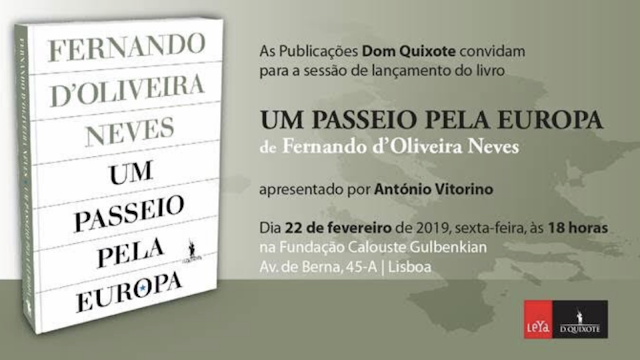Passei por lá há poucas horas, coisa que não fazia há dois ou três anos. Pelo aeroporto de Bruxelas, dito de Zaventem.
Ao contrário do que vulgarmente me sucede, voltei a sentir alguma nostalgia pela velha aerogare, construída para a exposição universal de 1958. Com o tempo, ela chegou a atingir momentos de notória decrepitude, com pássaros a voar pelos corredores, redes a tentar travá-los e os grandes vidros fazendo sombras de sujidade.
Sou bem antigo por ali. Assisti ao nascer do velho "satélite", ao fundo do antigo grande corredor. Vi construir, depois, do outro lado, a nova ala, que tornou aquilo que era um aeroporto de culto num espaço igual a todos os outros, como hoje já acontece com a Portela. Com os anos, fui descobrindo espaços novos, naquilo que hoje parece ser um espaço de gente apressada e quase angustiada, um imenso centro comercial. Hoje, surgem BMW iluminados, topo de gama, entre as passadeiras, a acenarem-nos com aquilo que não poderemos vir a ter. Já não me reconheço neste Zaventem, sou sincero! Mas, devemos ser justos: este novo aeroporto, embora mais “desumano”, é bem mais agradável e com melhor aspeto do que o antigo!
Devo ainda reconhecer uma coisa: se há um espaço desta natureza, em todo o mundo (e, caramba, conheço 109 países!), que me diz muito, por tantas razões afetivas, algumas inconfessáveis, é Zaventem - claro que depois da Portela e Pedras Rubras, sobre cujas relação comigo seria quase capaz de escrever um livro.
Por Zaventem passei os meus primeiros banhos de cosmopolitismo oficial, na segunda metade dos anos 70, como portador da "mala diplomática", na descoberta do "glamour" das viagens aéreas, ao tempo em que isso existia (ainda haverá “malas diplomáticas acompanhadas”?). À chegada, recordo, esperava-nos então, rezingão, o senhor Rézo, o motorista da nossa delegação junto da NATO, que sempre nos encaminhava para uns hotéis manhosos, onde se sabia que ele tinha comissão garantida.
(Um dia, troquei-lhe as voltas e, à chegada, anunciei ter reservado em um outro hotel. Ele era fiel do “Albert I”, na place Rogier, mas eu (depois de, numa noite umas semanas antes, ter aí tido a experiência bizarra de baratas sobre a cama) havia-me decidido por um tal “Sirius”, ali ao lado. O homem ficou silenciosamente furioso. Para aliviar a conversa, perguntei-lhe o que achava da minha escolha. Fez um silêncio, mas depois foi soberbo: “Pas mal, pour un bordel!”. Grande Rézo! Era francês, de Valenciennes, coisa que eu de início desconhecia. Tinha sido desclocado de Paris, quanto a NATO estava por lá, antes de De Gaulle ter tido um arrufo com os americanos. Era casado com a telefonista da nossa delegação na organização, uma loira de cabeleireiro, bem mais simpática do que o marido, o que, aliás, não era difícil. Na primeira vez que o conheci, a “armar” que falava francês à moda da Bélgica, em conversa no carro, usei a palavra “nonante”, que é a forma belga de dizer “noventa”, para o francês “quatre-vingt dix”. Rézo, que detestava a Bélgica e os belgas, “fuzilou-me”: “Vous me prennez pour un belge?! Mais non! Je suis français, monsieur!”. Tomei nota.)
Já mais tarde, depois de 1986, o aeroporto de Bruxelas passou a ser um meu destino bem habitual, pela TAP ou pela desaparecida Sabena (agora chama-se Brussels Airlines), nas deslocações regulares a "grupos de trabalho" da então CEE - o nome da atual União Europeia. Um comboio soturno levava-nos de lá, já pela noite dentro, para o centro da cidade, com os diplomatas e técnicos portugueses a saírem nas estações do Midi ou do Nord, para daí rumarem aos hotéis, como o Métropole e outros bem piores destinos da "moda", que cabiam nas nossas pobres ajudas de custo. Não eram tempos gloriosos, mas eu, à distância temporal, acho-lhes alguma graça, confesso.
Finalmente, o aeroporto de Zaventem ficou-me, para memória eterna, ligado a outros tempos que, embora também com bastante interesse, acabaram por ser de um imenso cansaço - os meus anos de governo, a partir de 1995 e até 2001.
Chegava a Bruxelas esgotado de dias incessantes em Lisboa ou noutras capitais, atulhado de papelada, ensonado e esfalfado. (Cheguei a adormecer na Portela, ainda antes de levantar voo, e a acordar com a tremideira da aterragem em Bruxelas, com o meu “pessoal” a pedir às hospedeiras para não me acordarem). No desejado cenário no fim da manga, tentava descortinar a figura amiga do senhor Barreiros, o simpático funcionário da Representação Permanente (Reper, para os iniciados), que me aliviava o peso da pasta e me conduzia, por corredores que sempre presumi serem VIP, até a um parque de estacionamento, onde me aguardava o fiel Willhelm, um motorista flamengo, tão calado como discreto, como o futuro o viria a provar à saciedade. E lá ia eu, para o Hilton, para o SAS ou para o Montgomery, arrasado de sono, ajoujado de dossiês chatíssimos, com os quais, ao lado, cheguei adormecer e a acordar no dia seguinte, ainda com a luz acesa...
Por aquele aeroporto passei então dezenas (qual quê! centenas!) de horas de atrasos, de conversas, de esperas, de compras. Por lá me deixei adormecer um dia, de fadiga, num banco, num final de tarde, perdendo um voo para o Luxemburgo, o que me obrigou a dormir, quase envergonhado comigo mesmo, num hotel próximo - e não há nada no mundo mais triste do que um hotel de aeroporto, acreditem! Por ali adquiri coisas que ainda hoje estão na minha memória familiar, num tempo em que, em Portugal, a oferta proporcionada pelas lojas era muito diferente das da "estranja". Por lá festejei "vitórias" arrancadas nas lides europeias e ali me forneci de livros inúteis, que comprava para entreter os minutos que antecediam os aviões - minutos que, no meu caso, são sempre mais, porque faço parte dos que, por regra e para desespero dos atrasados crónicos, chegam a tempo e horas.
Lembrei-me disso, ao final da tarde de hoje, numa breve passagem por Zaventem. Com alguma nostalgia, assumo. Serão saudades doutros tempos ou saudades de mim nesses tempos? Já escrevi isso por aqui, não escrevi?