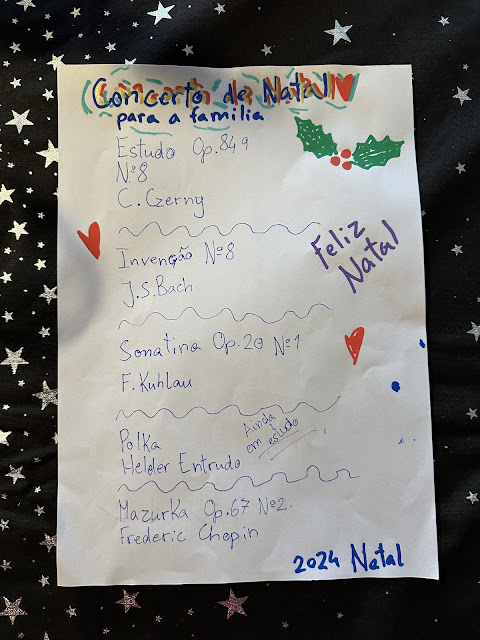Deito-me quase sempre tarde. Estava a ler. Deviam ser quase duas da manhã, nessa noite de Jerusalém, quando o telefone tocou. Consigo datar facilmente o momento: 26 de junho de 1978. Na véspera, no hall do hotel, tínhamos estado a assistir à final do campeonato do mundo de futebol, entre a Argentina e a Holanda, Quase toda a sala, onde havia muitos americanos que, nos dias seguintes, eu veria trocar "Israel bonds" ao balcão, havia "puxado" pela Holanda, com as raízes judaicas a ajudar.
Uma chamada telefónica, àquela hora?! Tenho sempre maus pressentimentos e detesto surpresas.
Atendi: "Acordei-o?". A voz era do chefe de gabinete do ministro Luis Saias, ministro da Agricultura do governo PS-CDS. Queria que eu me deslocasse ao quarto do ministro, se não me desse muito incómodo. Ainda inquiri se era alguma emergência. Sossegou-me: era uma questão "política", sobre a qual o ministro queria consultar-me, com alguma urgência. Fiquei um pouco inquieto, já perceberão porquê.
Eu era então um jovem diplomata, entrado no MNE há menos de três anos. Tinha a meu cargo o "desk" do Médio Oriente e Magreb, na direção-geral dos Negócios Económicos. Semanas antes, o "chefe da repartição" (equivalente à atual direção de serviços) do setor político do ministério, Queirós de Barros, chamara-me ao seu gabinete: "Você foi indicado pelo seu diretor-geral para integrar uma delegação que vai deslocar-se a Israel na próxima semana. Venha comigo ao ministro." Ir ao ministro? Um jovem terceiro-secretário? Não era comum. Lá fui com Queirós de Barros ao "terceiro andar", para ser recebido por Vitor Sá Machado, então ministro dos Negócios Estrangeiros, um dos três membros do CDS nesse executivo, que um mês depois cessaria funções.
O ministro recebeu-nos com grande afabilidade e explicou: "O primeiro-ministro Mário Soares decidiu enviar uma delegação a Israel, chefiada pelo ministro da Agricultura (sem trair qualquer deslealdade com o chefe do governo, o ministro deixava claro que essa decisão viera "de cima", provavelmente sem o seu parecer. Soares, por esses anos, no quadro da Internacional Socialista, dera vários sinais de aproximação a Israel). Você conhece, com certeza, a delicadeza da posição portuguesa face a Israel (Israel tinha uma representação consular em Lisboa, mas não havia mútua acreditação de embaixadores em Lisboa e Tel-Aviv). Temos excelentes relações com os países árabes, pelo que há que evitar que esta visita tenha impactos negativos no mundo árabe, que possam afetar as nossas crescentes relações económicas com vários desses países (eu sabia: não só tinha esse tema a meu cargo no MNE como, durante os dois anos anteriores, tinha estado envolvido em várias missões de natureza económica a alguns desses Estados). Por isso, esta viagem tem de ser essencialmente técnica e não pode correr mal no plano político! As mensagens que, nesse âmbito, sejam passadas pela nossa parte, não podem fugir "um milímetro" àquilo que tem vindo a ser a posição que Portugal tem assumido publicamente, em especial sobre o estatuto dos territórios ocupados e, em geral, sobre a questão israelo-palestina. Cabe-lhe a si "briefar" o ministro da Agricultura sobre isto. Já agora, quero lembrar-lhe uma coisa, se acaso não sabia: nunca um diplomata português esteve em Israel numa viagem oficial. Você será o primeiro! (Caí das núvens e, por um instante, fiquei "flattered" com o que parecia ser uma distinção). A escolha recaiu em si porque queremos que a nossa representação nesta delegação seja feita ao nível diplomático mais baixo possível (Ora bolas! Lá se foi todo o orgulho...)".
No regresso do breve encontro com o ministro, Queirós de Barros passou-me um "non-paper" (folha branca sem timbre) que sumariava as principais linhas da posição portuguesa no conflito entre Israel e os palestinos. E alertou-me, uma vez mais: "Não deixe que o ministro da Agricultura saia desta linha. Se alguma coisa correr mal, pode ser uma grande chatice!". Regressei ao meu serviço bastante preocupado. Então, dentro do governo, não fora possível dar orientações rigorosas ao ministro e era agora eu, um diplomata "ao nível diplomático mais baixo possível", que ia conseguir controlá-lo?!
Dias depois, na viagem aérea para Israel, via Roma, pedi ao ministro para me ouvir uns minutos. Repeti-lhe o que me havia sido dito para lhe dizer. Foi muito simpático mas, naturalmente, não me pareceu muito aberto a deixar-se "tutorizar" por completo por mim. A minha preocupação havia, aliás, aumentado, ao ter-me dado conta de quem era o contraparte israelita de Luis Saias: nada mais nada menos que Ariel Sharon, que então era ministro da Agricultura! "Apenas" o general mais político do Estado judeu, que viria a ser um polémico primeiro-ministro e cuja biografia me dispenso de relatar aqui.
Os primeiros encontros tidos em Israel, para meu descanso, assentaram em questões técnicas, que o ministro não parecia dominar por completo (não era essa a sua função) mas que o setor especializado do grupo mantinha a seu cargo de forma competente - recordo-me que iam da aquacultura até à extensão rural. Com Sharon tinha havido apenas uma "courtesy call" e estava prevista uma ida à sua quinta no deserto do Neguev. A minha derradeira preocupação era uma conferência de imprensa, no último dia, entre os dois ministros. Taticamente, tinha-me voluntariado para traduzir as palavras do nosso ministro, para tentar "controlar" o exercício.
Mas voltemos àquela noite, dias antes do fim da visita, em que o chefe de gabinete me acordou e me pediu para ir à "suite" de Luis Saias. Que diabo de problema "político" surgira?! Voltava a ficar preocupado. Chegado à "suite", o ministro esclareceu: havia recebido uma mensagem do seu homólogo, Ariel Sharon, informando-o que, no dia seguinte, seria recebido por Menahem Begin.
Fiquei siderado! Um encontro com Begin, uma figura com um passado mais do que controverso na política israelita (só o futuro lhe viria a reservar um outro lugar na História), daria uma maior projeção política a esta deslocação, que era tudo o que não desejávamos. O próprio Luis Saias tinha consciência disso. Assim, e não sendo possível escusar-se ao encontro, fui de opinião que o ministro se limitasse a sublinhar os aspetos técnicos da sua visita, talvez destacando o potencial de cooperação bilateral vislumbrado em vários setores. Se acaso a "política" tivesse de vir à baila, Saias deveria seguir a "cábula" que eu trazia de Lisboa, e que eu próprio já quase sabia de cor. Luis Saias era um político muito sensato e disse-me que já havia decidido isso mesmo.
Falámos uns minutos e, quando me preparava para sair da "suite", não sei se Luis Saias se o seu chefe de gabinete comentaram, uma vez mais, o inesperado deste encontro com "o chefe de Estado". Nessa altura, dei um "salto" interior. "Chefe de Estado"! Begin era "chefe do governo", era o primeiro-ministro!
O chefe de Estado de Israel é uma "rainha de Inglaterra", não tem o menor poder político, é eleito no parlamento e exerce uma função formal, que a constituição anula em termos substantivos. Esclareci os meus interlocutores que o nosso ministro iria ser recebido por Itzhak Navon, um estimável poeta (nunca dele li nada), uma figura mais do que apagada, que seguramente abordaria generalidades e encheria o encontro de platitudes. O que acabou por acontecer.
Porque lembro esta história? Porque li, há minutos, que
Itzhak Navon morreu.