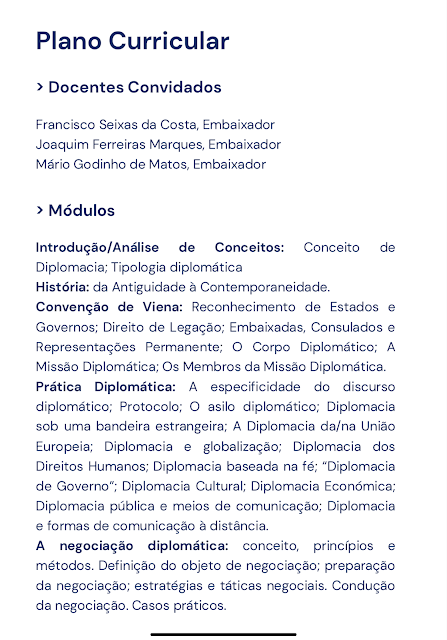Do nosso terraço, naquele final dos anos cinquenta do século passado, lá por Vila Real, via-se, ao longe, uma moradia branca a que eu ouvia chamar “a casa de saúde do doutor Otílio”. Que me conste, felizmente, nunca ninguém da família teve necessidade de lá ir parar.
“É ali que opera, todos os meses, vindo de Coimbra, o Bissaya”, também escutava, desde sempre, num registo que traduzia alguma admiração. Alguém vir, de fora, para operar doentes em Vila Real, naquela época, devia ser obra. E só com o tempo é que vim a saber que “o Bissaya”, Bissaya Barreto, era então um confidente muito próximo de Salazar.
Curiosamente, o dr. Otílio era conhecido como um declaradoopositor do ditador. Porém, não obstante as discordâncias políticas que os separavam, sabia-se que os dois médicos eram bastante amigos. Como grande amigo de Otílio Figueiredo era também o meu tio Humberto de Carvalho, que, ao tempo, na cidade, era uma proeminente personalidade da “situação”.
A primeira imagem que tenho da figura de Otílio Figueiredo é a de alguém que se passeava por Vila Real, muito esticado, cabeça levantada, com uma larga cabeleira, um “cabelo à poeta”, como então se dizia. Tinha um fácies grave, como à época era de bom tom ser afivelado pelos cavalheiros com peso na urbe. Embora sem nunca o ter conhecido pessoalmente, recordo que tinha dele uma ideia simpática, ao vê-lo com a sua bigodaça de estilo.
Ouvia dizer que, para além da profissão, escrevia literatura, coisa comum a médicos e a alguns advogados, um jeito muitas vezes trazido de Coimbra. Na minha família, unanimemente, “o Otílio” era visto como “um homem de bem”, politicamente “muito direito” (o que, na boca do meu pai, era altamente elogioso) e “muito boa pessoa”, como sempre ouvia dizer, ao meu tio e seu grande amigo.
Otílio Figueiredo, como se disse, era uma personalidade destacada do “reviralho” local. E a sua família também. Lá por casa, comentava-se: “Os filhos do Otílio têm ideias avançadas!”, um qualificativo que, à época, dizia tudo. Um dia, imagino, ter-se-á registado o rumor (que, afinal, era uma certeza) de que um dos filhos do médico oposicionista, o Eurico, tinha ido para o estrangeiro, para fugir à Pide.
Tinha pouco mais de 20 anos, quando conheci pessoalmente Otílio Figueiredo. Num final de tarde de agosto de 1969, o meu amigo António Leite, numa mesa da Gomes, disse-me ter tido lugar, poucos dias antes, na sala de “explicações” da sua avó, a professora dona Dirceia, uma reunião preparatória da criação de uma lista oposicionista, para concorrer às eleições legislativas de outubro desse ano. O meu nome fora então mencionado para ser convidado a juntar-me ao grupo, tendo ele ficado encarregado de me contactar.
Eu era então um estudante universitário em férias. Meses antes, tinha tido o meu banho de iniciação política: a eleição da lista associativa de que eu fazia parte, numa posição modesta, tinha sido “não homologada” pelo governo (não por minha causa, claro!). Depois disso, em Lisboa, tinha andado envolvido em algumas movimentações políticas, embora sem grande significado. Sem partido, eu era então um radical, numa aprendizagem acelerada do marxismo.
Ironicamente, tinha acabado de passar férias em França com o meu tio Humberto de Carvalho, o tal homem local do regime.
Antigo presidente da Câmara Municipal, esse meu tio tinha, nos últimos anos, regressado à sua vida de engenheiro. Porém, nesse ano de 1969, não tinha resistido ao apelo da “primavera marcelista” e preparava-se para ser o cabeça de lista da União Nacional ao ato eleitoral que se aproximava. Tinha-me falado nisso, em confidência, numa conversa em Biarritz, durante as férias. Ainda antes, e para poder acompanhá-lo, e porque eu estava na idade “da tropa”, tínhamos ido ver o governador civil, Torcato de Magalhães, que, sob a fiança da sua palavra, ordenou ao secretário do Governo Civil, o meu amigo José Aguilar, para emitir o documento que ia permitir a minha viagem.
Não obstante esse facto, decidi aceitar o convite transmitido pelo António Leite. Numa noite, no carro de Délio Machado, fui com ele à casa de Otílio Figueiredo.
Com grande simpatia, explicou-me o propósito da Comissão Democrática Eleitoral: ser uma frente unitária, que congregasse todos os oposicionistas locais. Não o disse, mas eu entendi: do “reviralhismo” republicano tradicional, aos (poucos) comunistas que por ali havia, passando naturalmente por figuras próximas do grupo de Mário Soares, como era o próprio Délio Machado. E, somando a tudo isso, havia um velho amigo, a figura do João Bouquet, a grande alma organizativa da CDE. Ou melhor, da CDEVR, porque a sigla pretendia ser uma marca distintiva das CDE de Lisboa, Porto e Braga, bem mais radicais. O João era então, entre nós, um homem difícil de qualificar politicamente: era simplesmente a alegria revolucionária em pessoa.
Começou nessa noite uma bela aventura, sob a liderança de Otílio Figueiredo. Poucos dias depois, com ele e com Délio Machado, fiz parte do trio que foi fazer entrega ao Governador Civil da lista oposicionista do distrito, que tinha Otílio à cabeça. Ainda estou a ver a cara de espanto de Torcato de Magalhães, ao deparar comigo - a mesma pessoa que, menos de dois meses antes, ali tinha vindo com o líder da União Nacional pedir um passaporte... Nunca tive por ingénuo o gesto de Otílio Figueiredo e de Délio Machado ao convocarem-me para esta cena. E sempre registei o “fair play” do meu tio, ao aceitar, com naturalidade, que eu tivesse decidido ir por um caminho político diferente do seu.
Otílio Figueiredo era um líder incontestado, mesmo a nível distrital. Paciente, bem humorado, aturava algumas ideias mais “avançadas” que eu propunha, e que traduzia em textos enviados para a imprensa em nome da CDEVR, textos que, as mais das vezes, nos dias seguintes ao envio para publicação, víamos selvaticamente cortados pela censura.
As reuniões, naquele andar de topo do prédio da Gomes, eram sempre momentos políticos interessantes.
Para a pequena história divertida, ficou uma cena com um velho “reviralhista”, que acumulava com o facto de ser um insuportável chato, a quem Otílio, já exasperado, pediu, a certa altura: “Olha lá! Não te importavas de ir ali ao Bragança comprar meia folha de papel selado?”. Perguntado, após a saída do homem, se estava a pensar fazer algum requerimento, fez um gesto de cansaço: “Nada disso! É que eu já o não conseguia aturar. E assim ganhamos uns minutos de sossego!”
Foram muitos os episódios que vivemos juntos, nessas semanas intensas e excitantes.
Numa noite, a decisão de nos associarmos, ou não, a uma posição coletiva da Oposição, a nível nacional, na resposta a um telefonema de Lisboa, de Mário Sottomayor Cardia, obrigou a uma reunião de emergência, em casa de Otílio.
No auge da discussão - na qual ele procurava ser a bissetriz entre duas alas, sobre a questão colonial, representadas pelo meu radicalismo e pela moderação de Délio Machado - tive um ataque de riso, sem o poder explicar: é que o bizarro e inenarrável pijama às riscas de Otílio de Figueiredo, que se tinha levantado da cama para moderar a decisão, me pareceu, num determinado momento, não “rimar” com a gravidade do tema. Não sei como me contive, por entre as gargalhadas que travava.
Desse belo tempo de 1969, recordo, finalmente, aquela que terá sido a minha única, se bem que educada e respeitosa, altercação com Otílio Figueiredo.
Foi nas horas subsequentes ao comício oposicionista no Teatro Avenida. Furibundo com o facto de um dos membros da nossa lista eleitoral, no seu discurso, ter afirmado que “o Ultramar deve continuar a ser português”, apresentei a minha demissão e recusei-me a integrar a delegação da CDEVR a uma reunião da Oposição a nível nacional, que teria lugar horas depois.
Otílio Figueiredo achou despropositada a minha reação, e disse-mo. Eu afirmei, com ênfase, que contestar a posição anti-colonial era uma linha vermelha a que eu não podia associar-me. Demiti-me, assim, da CDEVR, a poucas horas da votação.
A nossa oposição vila-realense não teve um resultado brilhante. Nenhum dos nossos candidatos foi eleito. Nada que nos surpreendesse muito. Assim ocorreria também em todo o país, onde, como em todos os arremedos de eleições que a ditadura encenava, a oposição não iria conseguir eleger ninguém.
Porque a política local era, então, algo de muito peculiar, deixo registado que, semanas depois do ato eleitoral, organizado pelo Rotary Clube, teve lugar um jantar de homenagem conjunta a Otílio Figueiredo, o líder oposicionista derrotado, e ao meu tio Humberto de Carvalho, líder da lista eleita e futuro deputado.Dois amigos que nunca deixaram de se abraçar, até ao fim das suas vidas.
No meu caso, a vida iria afastar-me bastante da cidade. E, por algum tempo, só casualmente voltei a cruzar-me com Otílio Figueiredo, com o qual mantinha um registo de mútua simpatia e amigo apreço.
Imediatamente após o 25 de Abril, integrei, com o meu pai, uma manifestação junto ao regimento de Infantaria 13, de apoio à indicação de Otílio Figueiredo para Governador Civil de Vila Real. Não viria a sê-lo, porque a relação de forças partidárias na região começava a ser desfavorável àquilo que ele representava em termos de ideias.
Depois, por muito tempo, o “Setentrião”, a sua livraria no Cabo da Bila, passou a ser uma das minhas regulares “capelinhas” de romagem, nas visitas que fazia a Vila Real.
Otílio era de uma grande simpatia e generosidade para comigo, visivelmente atento ao meu percurso profissional, refletindo sempre comigo sobre os tempos da política nacional, a que percebi estar sempre muito atento, embora não raramente dela refletisse algum desencanto.
Tenho saudade desse cidadão de exceção que foi Otílio Figueiredo. Foi uma figura distinta de profissional médico, um intelectual de mérito, um grande democrata e, acima de tudo, um homem solidário que soube estar à altura dos desafios dos tempos que lhe coube viver.
(Texto que publiquei no “In Memoriam de Otílio Figueiredo”, que acaba de ser editado pelo Grémio Literário de Vila Real)