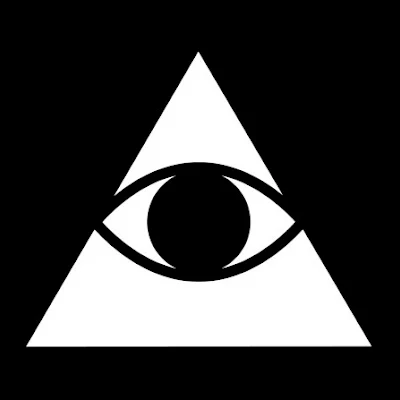Está por aí um calor que até assa canas, dizia-se na minha juventude. Cada vez mais! Tenho imagens fortes de dias abafados, nesses tempos, lá por Vila Real. Sem ar condicionado, algo que nem sonhávamos o que era mas que víamos na publicidade da "General Electric", na edição brasileira do "Reader's Digest", o calor matinal arrancava-nos da cama, as tarde passavam-se com janelas abertas "para fazer corrente" e só lá para o fim do dia nos aventurávamos para namorar "pela sombra" ou ir beber um "fino" na esplanada da Gomes.
Bem mais jovem ainda, dias havia em que eu me refugiava no Albertino dos jornais, cuja vizinhança da minha casa permitia o privilégio da consulta gratuita de tudo quanto tivesse letras e imagens, ou ia para o canto do balcão do Carvalho da drogaria, ouvindo-lhe as graças lúbricas às empregadas domésticas que por lá passavam a comprar água-raz ou benzina para as nódoas.
A cidade era então uma chatice inenarrável, onde não acontecia nada, onde muito pouco havia para fazer, onde não existia uma única piscina e até as árvores, sob a torreira, surgiam com uma auréola tremida, como nas miragens dos filmes. Às vezes, dou comigo a pensar que o conceito de "bons tempos", que frequentemente soltamos nas conversas, tem apenas a ver com o facto de então sermos novos.
(Olhe-se para Vila Real, nos dias de hoje! Para as "corridas", para a alegria nas ruas, para a oferta cultural e lúdica. É a noite e o dia!)
Há minutos, aqui em Lisboa, na minha rua irrespirável sob o sol forte, uma vizinha dizia para outra, que ia a caminho da praia: "Agarra o Verão, filha!".
Entrei em casa com a frase na cabeça. Como, com a idade, temos a mania do "déjà vu", achei que era isso. Cinco minutos depois, já não sei bem porquê, a memória deu um salto: "Agarra o Verão, Guida, agarra o Verão!"
É isso! Era essa a frase. Alguém se lembra do que era? Lembro eu: era o nome original de um texto de Luís de Sttau Monteiro que deu origem a uma das primeiras telenovelas portuguesas, "Chuva na areia".
"Para que te serve essa informação toda?", perguntava-me desdenhoso um amigo, sempre muito cético sobre o préstimo destes meus despretensiosos escritos. Ele é capaz de ter razão, e não sei se gostou da minha resposta: "Talvez não sirva para nada, mas sinto-me mais confortável tendo-a..."
Bem mais jovem ainda, dias havia em que eu me refugiava no Albertino dos jornais, cuja vizinhança da minha casa permitia o privilégio da consulta gratuita de tudo quanto tivesse letras e imagens, ou ia para o canto do balcão do Carvalho da drogaria, ouvindo-lhe as graças lúbricas às empregadas domésticas que por lá passavam a comprar água-raz ou benzina para as nódoas.
A cidade era então uma chatice inenarrável, onde não acontecia nada, onde muito pouco havia para fazer, onde não existia uma única piscina e até as árvores, sob a torreira, surgiam com uma auréola tremida, como nas miragens dos filmes. Às vezes, dou comigo a pensar que o conceito de "bons tempos", que frequentemente soltamos nas conversas, tem apenas a ver com o facto de então sermos novos.
(Olhe-se para Vila Real, nos dias de hoje! Para as "corridas", para a alegria nas ruas, para a oferta cultural e lúdica. É a noite e o dia!)
Há minutos, aqui em Lisboa, na minha rua irrespirável sob o sol forte, uma vizinha dizia para outra, que ia a caminho da praia: "Agarra o Verão, filha!".
Entrei em casa com a frase na cabeça. Como, com a idade, temos a mania do "déjà vu", achei que era isso. Cinco minutos depois, já não sei bem porquê, a memória deu um salto: "Agarra o Verão, Guida, agarra o Verão!"
É isso! Era essa a frase. Alguém se lembra do que era? Lembro eu: era o nome original de um texto de Luís de Sttau Monteiro que deu origem a uma das primeiras telenovelas portuguesas, "Chuva na areia".
"Para que te serve essa informação toda?", perguntava-me desdenhoso um amigo, sempre muito cético sobre o préstimo destes meus despretensiosos escritos. Ele é capaz de ter razão, e não sei se gostou da minha resposta: "Talvez não sirva para nada, mas sinto-me mais confortável tendo-a..."