Estava Madrid distraída com a Catalunha, quando um grupo da aristocracia lusa, a quem Castela não parecia dar a atenção devida, armou um motim em Lisboa e colocou fim a 60 anos que, entre nós, ficaram conhecidos como "o tempo dos Filipes". Na passada, um membro da família Bragança ficou no trono. Farto da tutela estrangeira e do Vasconcelos que lhe impunham, o povo gostou da mudança, ao que rezam as crónicas.
Passaram 372 anos. Filipe de Espanha e a própria Espanha são outros, a Catalunha continua a distrair Madrid e nós cá estamos, com os Braganças a banhos, com bilhete a pagar para ver o trono sem dono na Ajuda. A independência, essa é o que pode ser, nos dias que correm, com os reis, valetes ou damas do baralho que Portugal sempre foi.
O "Expresso", entre outros comentadores, traz-me hoje a dizer algo sobre o tema provocatório que a sua Revista escolheu - "Portugal acabou?". O texto que lhes enviei, para que dele escolhessem o que quisessem para publicação, rezava o seguinte:
O conceito de independência nacional
tem-se transmutado ao longo do tempo. A crescente interpenetração das
economias, a livre circulação dos capitais e a prevalência dos modelos de
segurança coletiva, bem como de formas institucionalizadas de gestão
multilateral das soberanias, tudo isso relativiza os modelos tradicionais
de independência.
É evidente que a afirmação da independência
depende muito da nossa capacidade de controlar o nosso destino imediato,
pelo que, na crise económico-financeira atual, perdemos conjunturalmente
muita independência. Mas essa perda é, a prazo, recuperável.
Nos dias que correm, a multiplicidade de
certas ligações internacionais (pertença ao projeto europeu, participação
na NATO, influência na CPLP, capacidade de afirmação nas Nações Unidas)
acaba por conferir a Portugal um conjunto maior de garantias para a
sua própria sobrevivência como Estado, de afirmação da sua
identidade própria como país e de objetivação da sua vontade política.
Estamos muito distantes do país tutelado pela Inglaterra que existia até
ao final dos anos 20 do século passado ou do Portugal “coincé”,
orgulhosa e teimosamente só, da ditadura salazarista, sem força para
"mandar cantar um cego" fora das frágeis fronteiras de um
império com pés de barro.
Todos somos hoje, pelo mundo, menos
independentes e mais dependentes uns dos outros, embora com alguns a serem
mais iguais do que outros, pela força natural das coisas. A atenção quase
obsessiva que, há semanas, todos dedicámos às eleições americanas – nós,
como os russos, os chineses ou os israelitas – é a prova provada da nossa
dependência inescapável do futuro de um país que, queiramos ou não, dá
hoje as cartas de um jogo em que todos procuramos arrebanhar o maior
número possível de trunfos. A luta política internacional contemporânea
é centrada na tentativa de cada Estado tentar reduzir, ao
mínimo possível, as suas dependências. Mas nenhum Estado, nem mesmo os
EUA, é hoje independente – do terrorismo, do petróleo ou dos golpes da
natureza.
Portugal tem nove séculos e está aí “para
as curvas”. Esta nossa "nonchalance” com a nossa independência, este gosto
por dizermos mal de nós próprios (que se suspende quando outros dizem mal
de nós à nossa frente, como se viu no caso “finlandês” ou na reação às
diatribes de um responsável checo) e do nosso futuro, a snob ideia de “finis
patriae” ou a autoprovocação com a diluição ibérica, tudo isso não passa
de uma demonstração inequívoca de que estamos suficientemente seguros
da nossa identidade para nos podermos dar ao luxo de brincar com
ela, mesmo à beira do precipício.
Tenho imenso orgulho em ser português, até porque, por
exclusão de partes, não sinto tentação de ser americano, francês ou
espanhol. Por esse mundo fora, passo o tempo a encontrar gente que nos
identifica como uma entidade com sustentação garantida na sua memória
histórica, gente que olha para nós com surpresa quando algum português,
neste jeito “self-deprecating” que alguns de nós usamos, se
inflige masoquistamente alguns qualificativos negativos. Vejam-se
os portugueses da diáspora e o modo como olham o seu país, talvez
porque, no país dos outros, sabem bem como os fatores nacionais são explorados.
Querem um exemplo indireto deste orgulho na
portugalidade?: o futebol. O hiperbolizar das glórias na ponta de uma
chuteira, podendo não ser a mais nobilitante forma de ser patriota, é um
sintoma de uma saudável “doença” nacional, que prova que o país “está lá”,
no verde e vermelho da bandeira que a todos nos cobre... até aos
nostálgicos monárquicos, agora num país sem coroa (embora também sem
muitas coroas...).
Se há coisa que a
integração da Europa trouxe aos europeus foi a necessidade de se mostrarem
diferentes uns dos outros, o orgulho das regiões (e, em alguma Espanha e
na Escócia, a vontade de ir mais longe), o sublinhar das identidades
antropológicas, o “small is beautiful”, a pulsão pela subsidiariedade ao
nível daquilo que nos distingue. Os países estão aí para ficar e nenhum
“template” europeizante vai diluir a sua importância.
Portugal é uma ideia moderna e as
dificuldades que atravessamos talvez nos tenham feito perceber que estamos
num barco, que sendo mais um cacilheiro do que um paquete de luxo, é, no
entanto, a única embarcação disponível para evitar um naufrágio. E o
passado, onde crises bem maiores já nos ocorreram, vai provar que não
temos vocação para “morrer na praia”, embora talvez tenhamos de fazer um
esforço para nos convencermos de que não podemos, no futuro, passar
tantos dias a gozar férias nela.
Não estou, por isso, minimamente preocupado com o futuro de Portugal
como entidade autónoma no plano internacional.
E, já agora, viva o 1º de dezembro, também em Vila Real, depois do "regadinho" (ninguém, de fora, sabe o que isso é!), noite das homéricas ceias na academia, outrora feitas com carne das "penosas" surripiadas nos quintais menos atentos e adubadas a álcoois que funcionavam (agora já não devem funcionar, tal a precocidade das novas gerações) como ritos de passagem, por essas terras transmontanas. Em 2013, lá estarei, sem falta!
Em tempo: há precisamente quatro anos, no Brasil, fiz uma conferência sobre a nossa independência. Revi-a agora e não lhe alterava uma linha. Aqui fica "à toutes fins utiles", como dizem os franceses.




.jpg)
.jpg)


.jpg)

.jpg)




.JPG)

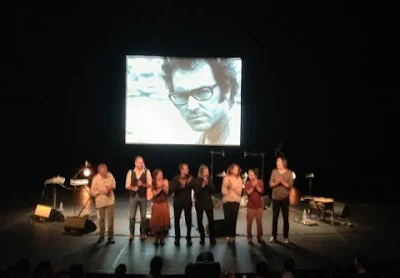


+(1).jpg)
.jpeg)

.jpg)

.jpg)


