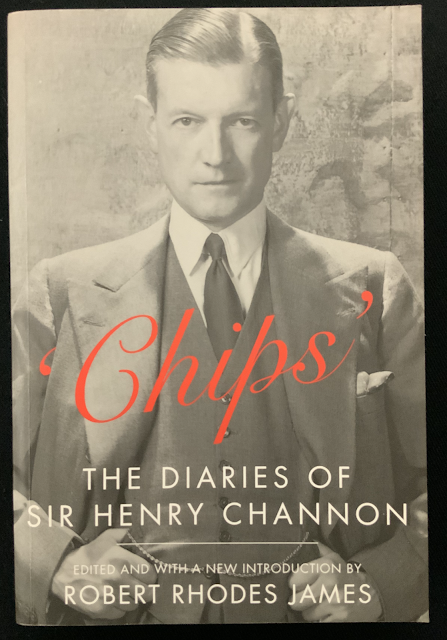- Ó diabo! Vem ali o Castanheira!
O comentário feito pelo chefe de repartição, voltando-se para o diretor-geral, quando ambos saíam para o almoço, alertava para um perfil rotundo, algo bamboleante, que, ao fundo, vindo da rua, se aprestava para circundar o jardim central do pátio das Necessidades.
O Castanheira era um daqueles funcionários, entre o caricato e o patético, que o ministério, para não ter de enfrentar a óbvia inadequação para ocupar lugares de responsabilidade na sede, optava por expatriar em serviço, esquecendo-o em consulados longínquos, na ilusão de que isso os tornaria inóquos para a imagem de uma carreira que, por incompetência e irresponsabilidade, os havia deixado entrar no quadro e, por cobardia e descuidada gestão de recursos humanos, não era capaz de isolar numa prateleira interna, para evitar piores males.
Os "Castanheiras" existem em todos os tempos do MNE, ganham lugares no quadro externo num qualquer "movimento diplomático" que deles acaba por ter piedade ("Coitado! Tem filhos..." ou "O homem já anda por aí há tanto tempo...") e, não raramente, transmitem uma medíocre imagem do país que lhes caberia saber representar. Não são muitos, felizmente, mas, por muitos poucos se sejam, são em número demasiado. Quem conhece bem a carreira sabe do que estou a falar.
Vindo de férias a Lisboa, do lugar distante para onde o "conselho" o tinha mandado já há anos, o Castanheira avançava então, nesse dia de verão do final dos anos 70, com um fato claro de mau corte, que denunciava os tristes trópicos por onde agora pairava, em direção às duas figuras da hierarquia que saíam do palácio. Era um homem conhecido pelo verbo balofo, pelo caráter prolixo dos seus comentários, enfim, para sintetizar, por ser um inenarrável chato, uma lapa oral, daqueles que nos agarram a manga do casaco e colocam a mão sapuda no ombro, que aproximam a cara para reforçar a cumplicidade, fazendo-nos partilhar a riqueza odorífera do seu bafo, coisa agora mais perigosa, em tempos de pandemia.
Ora o diretor-geral, um embaixador da velha escola, era um exemplo conhecido de quantos, na sua consabida snobeira e pesporrência, não tinham a menor paciência para conviver com esse estilo de figuras, algo untuosas e fátuas. Tinha apenas uma vaguíssima ideia do tal Castanheira, fruto de anedotas que dele ouvira, na tradição oral de escárnio em que o MNE é useiro, vezeiro e cruel. Nunca tinha falado com ele e, francamente, não era agora que isso iria acontecer, como desde logo avisou o amigo com quem ia almoçar. Este, por uma infeliz coincidência para o momento, tinha entrado para a carreira no concurso do Castanheira, o que o não dispensava de uma saudação mínima ao colega expatriado e que há muito não via.
- É pá! Vê lá se nos libertas logo do homem! Dizem-me que é um cretino de altíssimo coturno... - sussurrou o embaixador, com o Castanheira já quase à distância de um cumprimento.
O encontro deu-se à saída do pórtico de acesso ao palácio, sob o olhar atento, venerador e obrigado do Matos, o digno porteiro que, à época, por aí oficiava, no lugar onde, nos dias de hoje, pairam umas fardas anónimas da Securitas ou coisa parecida, uma espécie de genérico funcional, em tempos de seca orçamental.
Ao abraço entre o Castanheira e o chefe de repartição, seguiu-se o inevitável:
- ... não sei se se conhecem: o Castanheira, que anda agora pela América Latina, e o senhor embaixador...
O Castanheira nem deixou o amigo terminar a frase:
- O senhor embaixador?! Essa agora! Quem o não conhece?! Tenho imenso prazer em encontrar vossa excelência. O senhor embaixador é uma figura referencial da carreira, é - permita-me que lho diga!- uma das personalidades que mais honra a nossa diplomacia. Tenho por vossa excelência uma incontida admiração e andava, há anos, por ter o ensejo de lho expressar em pessoa. É para mim um imenso privilégio poder conhecê-lo e cumprimentá-lo. E diria mesmo, agradecer-lhe o que tem feito por nós, pela nossa casa, pelo prestígio da nossa profissão. Vossa excelência é um exemplo que todos procuramos seguir.
E o Castanheira, sempre ditirâmbico, continuou numa elegia gongórica sobre a figura do diretor-geral, lembrando os seus postos anteriores e os alegados feitos profissionais relevantes que bem ilustravam esse percurso. O amigo chefe de repartição só a custo conseguiu pôr cobro, ao final de uns minutos, a essa inesgotável verborreia.
Finalmente, lá se descolaram do Castanheira, que anunciou que ia ver umas "senhoras" ao "quarto andar", para tratar do telhado do consulado. "O senhor embaixador sabe, melhor do que ninguém, o que são essas coisas", deixou no ar, profissionalmente cúmplice, afastando-se, não sem uma respeitosa vénia ao superior hierárquico.
O chefe de repartição, aliviado, olhou para o diretor-geral e comentou:
- Ó pá! Desculpa lá teres tido que aturar este tipo. É um chato, nunca mais nos desamparava a loja...
- Essa agora! Até te digo mais: fiquei bem impressionado com o rapaz! Este Castanheira pareceu-me simpático e articulado. Mudei a ideia que me tinham criado dele. Como é que ele está na lista de antiguidade? Não lhe podemos dar uma mão, na reunião do "conselho" para as promoções, para a semana?