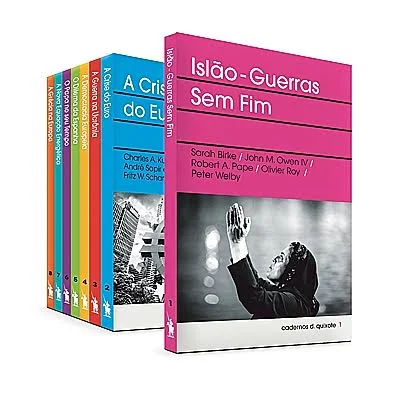Haverá boas e más razões para se ser contra a experiência de um
governo minoritário do PS, com apoio dos partidos à sua esquerda. Já por aqui falei
das dúvidas que a fórmula me suscita.
Há, contudo, duas razões que me recuso a aceitar.
A primeira tem a ver com a ideia de ilegitimidade desse presuntivo
governo, por provir da agregação da vontade política conjugada de três
formações que, cada uma delas de per si, não ganhou as eleições. É
democraticamente ridículo, perante o impasse de uma proposta visivelmente
minoritária, que não consegue garantir, por ação ou omissão, apoio parlamentar
suficiente, dar por adquirido que o parlamento não tem o direito de gerar
outras soluções de governabilidade. Ou alguém duvida que, em 2009, se o PSD e o
CDS tivessem somado 116 deputados, face a um PS minoritário mas com mais votos do
que qualquer deles, a dra. Manuela Ferreira Leite teria sido primeira-ministra?
Foi patético observar o leque de reservas políticas com que o
presidente procurou ajudar a escorar esta frágil argumentação, não obstante ser
a mesma pessoa que, durante anos, andou a apelar para “consensos” maioritários.
Talvez devêssemos ter subentendido que isso significava sempre a inclusão
nessas fórmulas do partido de que é militante.
Eventualmente por essa razão, alguma imprensa europeia, insuspeita
de progressismo, mas pouco dada às idiossincrasias consuetudinárias que alguns
querem erigir por cá em jurisprudência constitucional, se vê por estes dias em
palpos de aranha para perceber o "drama" que ecoou das palavras do
presidente. Embora seguramente entenda melhor a pré-nostalgia, expressa num
tremendismo que pretende lembrar os idos de 1975, que já atravessa as hostes da
direita portuguesa.
A outra razão é a que, subliminar ou expressamente, aparece
espelhada nalguns comentadores, em especial na imprensa económica: os mercados não
querem uma aliança à esquerda. Mal estaríamos se um país tivesse de condicionar,
em absoluto, as suas opções governativas aos humores dos “traders” das salas de
mercado.
Todos já percebemos que, com a criação da UEM, do euro e do
compromisso de manutenção de objetivos macroeconómicos cumulativos para nele subsistir,
que se soma ao espartilho das regras de economia liberal que marca a filosofia
prevalecente no âmbito do mercado interno europeu, os Estados colocaram-se
voluntariamente num colete de forças. O capitalismo é o sistema adotado pela
Europa comunitária, “o socialismo está proibido", como alguém disse um dia,
pelo que subsiste apenas um escasso terreno de manobra aos governos nacionais
mais dados “ao social”, feita de opções fiscais e de um moderado reformismo,
nas margens do diverso possibilismo orçamental. Não vale a pena lembrarem-nos
isso: já sabemos! Mas arroguemo-nos, pelo menos, o direito nacional de escolher,
bem ou mal, quem vai gerir essa nossa (falta de) liberdade.
(Artigo que hoje publico no "Jornal de Notícias")