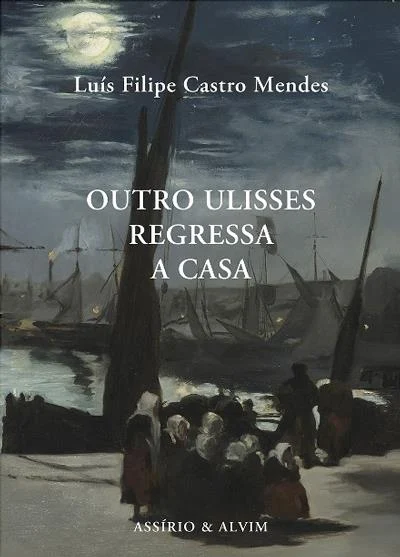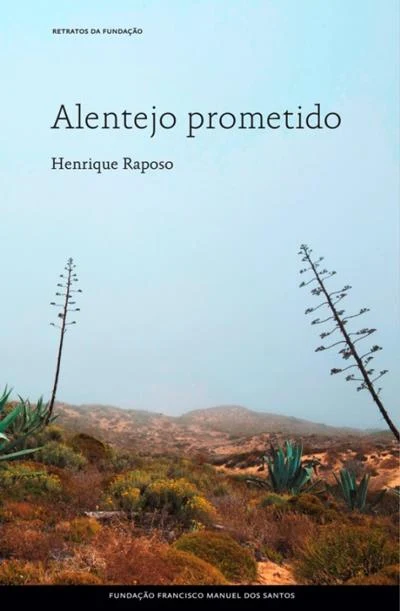Não sei se devemos ter grandes esperanças no cessar-fogo que entrou em vigor na Síria. A experiência mostra que este tipo de acordos é sempre muito frágil. Resta ainda notar que as partes geralmente aproveitam, nos primeiros tempos, para efetuar retificações nas linhas de conflito, onde pensam poder obter algumas vantagens operacionais, com custos políticos residuais.
Mas vale sempre a pena tentar, quanto mais não seja porque um qualquer abrandamento das ações armadas significa um alívio, ainda que pontual, para populações que já sofreram mais um quarto de milhão de mortos, em que 11 milhões (imaginamos o que isso é?) de pessoas tiveram de deixar as suas casas (entre refugiados no estrangeiro e deslocados dentro do país), num cenário de guerra bárbara que dura há mais de cinco anos.
Convém começar por lembrar que esta guerra começou pela violenta rejeição do governo sírio de efetuar qualquer abertura política que pudesse vir a democratizar o regime. A reação do presidente Assad, que desde o início percebeu poder contar com o "backing" complacente da Rússia, que travaria qualquer ação mandatada pela ONU, foi de extrema violência, fechando quaisquer pontes ao menor entendimento com as forças opositoras.
Assad é um criminoso de guerra (embora creio o TPI o não tenha indiciado como tal, graças à entrega atempada, com intermediação russa, do seu arsenal de armas químicas), mas algumas das estruturas político-militares que se lhe opõem também não são "flor que se cheire". Em alguns casos, são grupos de exilados que derivam da oposição do tempo do pai do ditador, com uma agenda de interesses cuja legitimidade não é muito distante da que impõe a lei em Damasco.
Durante os primeiros tempos do conflito, a comunidade internacional elegeu como interlocutores anti-Assad figuras que, desde há algumas décadas, se passeavam pelos salões políticos de Londres e Paris. Encheu-os de dinheiro para financiar a liberdade mas, rapidamente, percebeu que esses fundos desapareciam num buraco negro de corrupção e desvio de objetivos.
Mas, mais do que isso: a certo passo, os interlocutores ocidentais dos grupos anti-Assad deram-se conta de que a representatividade efetiva dessa gente deixava muito a desejar. Com efeito, os grupos para-militares no terreno passaram a gerar uma agenda política própria e a comunidade internacional deu-se conta de que tinha de alargar o espetro de interlocutores se, de facto, queria ter alguma eficácia nas suas tentativas de promover a paz. Afinal, os políticos engravatados no exterior representavam bastante menos do que estes.
O "puzzle" de interesses que se reflete na Síria é demasiado complexo para poder ser classificado, de forma maniqueísta, entre "bons" e "maus", muito embora seja evidente que, em tese, a pura preservação do poder ditatorial de Assad não tem a menor sustentação no plano dos princípios. Resta saber se, no plano prático, qualquer solução não tem mesmo de passar por Assad.
No meio de tudo isto, surgiu entretanto o Estado islâmico, que veio somar confusão à confusão, combatendo Assad mas atuando com uma agenda própria, que vai muito para além da Síria. Num terreno que tem um histórico próprio, o problema curdo também se imbricou na questão, à medida que a Turquia era arrastada para o conflito. Ancara utiliza o seu inevitável envolvimento na questão, ao ser vítima da chegada de ondas de refugiados, para uma ação colateral anti-curda.
Dois outros atores regionais aparecem também cada vez mais envolvidos. O Irão, relativamente recuperado pela comunidade internacional desde o seu acordo nuclear, é um aliado objetivo de Assad, mas tem como principal agenda a manutenção do poder do Hezzebolah, cuja influência é determinante no Líbano e, em Gaza, junto do Hammas. Num polo oposto, a Arábia Saudita, que vive numa orfandade geopolítica desde que os EUA iniciaram um evidente "desengajamento" na região, teme agora a nova liberdade de Teerão, gostaria de ver Assad derrotado e está a reforçar o eixo sunita para dias que alguns preveem potencialmente muito perigosos. Dos outros poderes regionais relevantes, só Israel se mantém com um "restrain" notável, apenas aproveitando a conjuntura para fazer ações cirúrgicas junto do Hezzebolah.
Como ficou evidente desde o primeiro momento, a Rússia constitui o principal apoio de Assad, não podendo sequer a aliança objetiva de Damasco com o Irão ser considerada ao mesmo nível. Estas relações datam dos anos 50. As razões russas são de óbvia natureza estratégica. Moscovo está desde há muito preocupado, e com razão, com a desregulação crescente na região, temendo que a influência islamita radical possa vir a alargar-se pelas zonas do Cáucaso do Norte, de onde partiram milhares de combatentes para ajudar a insurgência anti-Assad. Além disso, a Rússia aproveita para não perder as suas apostas logísticas na área, nomeadamente para garantir a preservação da base de Tartus, que ajuda a reforçar a sua atenção à zona mediterrânica, facilitada agora pelo "take over" da Crimeia. A sua resposta positiva ao apelo do governo sírio, formalmente para combater o Estado Islâmico - mas, na realidade, para atacar também os combatentes anti-Assad -, teve a curiosidade de, por algum tempo, transformar a presença russa na região na única que tinha uma legitimidade incontestável: um pedido de um governo ainda tido internacionalnente como legítimo. Esta "nuance", naturalmente pouco sublinhada pelo mundo ocidental, acabou por dar a Moscovo espaço diplomático para se associar com "magnanimidade", no Conselho de Segurança, à resolução que legitimou a presença da coligação que combate o Estado Islâmico.
Termino com uma constatação, que pode não agradar a muita gente: este cessar-fogo não teria ocorrido tão cedo se a ação russa não tivesse equilibrado a situação no terreno. Isso pode ter tido como consequência um "ressuscitar" de Assad, mas, pelo menos, pode vir a calar (algum)as armas por algum tempo. Alguns mortos se pouparão.