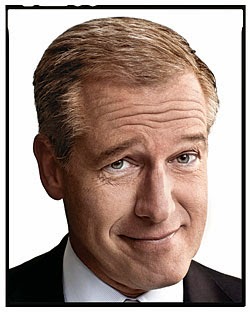Luis Moita, que dirige o Departamento de Relações Internacionais da Universidade Autónoma, lançou-nos o desafio de responder à questão: "Faz sentido falar-se de potências emergentes?". Debatemos hoje esta questão, estimulados por intervenções dos professores brasileiros Mônica Hirst e Reginaldo Nasser.
Para além do debate em torno do próprio conceito de "emergente" (que é um termo de quem "vê" o mundo do norte, quando há outras visões, como o mapa mostra), analisámos o comportamento desses atores no cenário internacional, avaliando da sua vocação para serem "revisionistas" da ordem global ou apenas desejarem partilhar, legitimando e democratizando, essa mesma ordem.
Com o Brasil como eixo natural do debate, afloraram-se os modelos de agregação dos emergentes. Falámos de outras estruturas de representação (como o G20, os BRICS, o IBAS) e das resistências à mudança dos defensores do "status quo" e, muito em particular, da antiga ambição de entrada como membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU do G4 (Brasil, Índia, Japão, Alemanha), a que se opõe o "Coffee Club" (mais tarde formalizado como "Uniting for Consensus"), iniciado pela Itália, Paquistão, México e Egito, em 1998.
(Não me ocorreu contar, mas acho deliciosa a clássica tirada do embaixador italiano Paolo Fulci, ao criar o "coffee club", comentando a ambição da Alemanha e do Japão de ingressar no Conselho de Segurança: "After all, Italians also lost World War II".)
O Brasil e sua política externa foi objeto de análise detalhada neste encontro, tendo os professores brasileiros referido que o país atravessa um tempo de retração da anterior ambição de projeção na ordem externa, que alguns vão ao ponto de qualificar como prenúncio de declínio da posição internacional do país.
Devo dizer que, em todo o debate, fui responsável pela introdução do seu ponto mais polémico: a minha perspetiva de que o Brasil, em 2010, cometeu um erro estratégico grave ao ter avançado, lado a lado com a Turquia, com uma proposta de mediação da questão nuclear com o Irão. Os EUA e o terceto europeu (Reino Unido, França e Alemanha) "puxaram o tapete" à iniciativa. Os professores brasileiros não estiveram de acordo comigo e defenderam a legitimidade da iniciativa turco-brasileira, na perspetiva de que não pode haver espaços de regulação de diferendos exclusivamente reservados aos países ocidentais, tanto mais que o resultado final da negociação que acabou por feita não se afasta muito da que surgiu naquela iniciativa.
Sem pôr em causa a racionalidade desta linha de pensamento, posso contudo perceber que, tratando-se de uma questão ligada ao poder atómico, três Estados possuidores da arma nuclear (embora acompanhados de outro que a não tem, mas que completa os poder fácticos dentro da União Europeia) considerem que lhes cabe a eles tentar regular um problema com um outro Estado que ameaça a segurança global nesse domínio. E que não apreciem iniciativas que com eles não hajam sido coordenadas (embora, neste caso, a existência de uma controversa carta de Obama a Lula possa justificar algum "misunderstanding"). Porém, a minha questão essencial nem sequer era essa. O que pretendi afirmar foi que a boa vontade ocidental, essencial para o Brasil poder alimentar esperanças de poder ascender ao Conselho de Segurança da ONU, poderá ter ficado fragilizada pelo facto da iniciativa ter conferido ao país, subitamente, uma imagem de um poder algo "imprevisível" no seu comportamento internacional. E isso não favorece os interesses de Brasília. Esta é, desde há muito, a minha opinião e, por isso, vale o que vale.