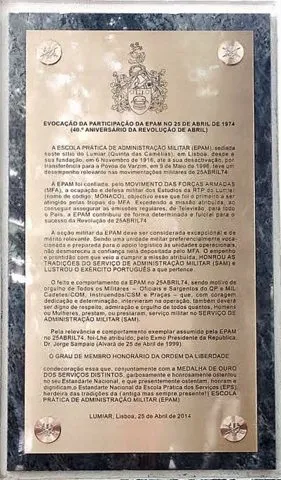A tentação de afirmar que tudo mudou com o 25 de abril é muito forte no que toca à política externa. Da ditadura obsoleta, politicamente isolada, sustentáculo de uma presença colonial perdida historicamente no tempo, emergiu, de um dia para o outro, uma súbita esperança democrática e de libertação, feita de alegria florida nas ruas. Uma esperança em que, contudo, alguns no mundo não deixaram de vislumbrar certos riscos.
O facto de não ter surgido, na convulsão política pós-Revolução, uma séria proposta no sentido de Portugal abandonar a NATO revelou a consciência subliminar de que o país tinha condicionantes geopolíticas a que não podia escapar. A geografia prevaleceu, mas também mudou: umas vezes mudou ela própria e nós com ela, outras vezes fomos sujeitos involuntários dessa mudança.
Mudou no plano físico, com o fim das fronteiras e com os acessos a tornarem-nos menos periféricos, num choque de modernidade que foi uma fantástica revolução silenciosa. Mudou fortemente no plano político, com a integração europeia a determinar um quadro de responsabilidades que nos veio a tornar parceiros de um projeto mais vasto, eticamente sustentado, com uma coerência que incorporámos na nossa própria matriz de afirmação. Mudou com a recuperação da plena normalidade com a nossa vizinhança imediata, com a descoberta de uma vocação mediterrânica que levou à fixação de um interessante laço com um mundo islâmico, que passou a ver em nós um interlocutor atento. E mudou também com muitos outros mundos, de que o fim da ditadura e do colonialismo nos aproximou.
Uma nova geografia "de afetos" conduziu ao gradual estabelecimento de um quadro institucional prioritário com Estados que falam a nossa língua e com os quais tentamos reconduzir-nos a uma cooperação equitativa, depois daquilo que foi uma longa e traumática relação colonial. E alterou também o nosso posicionamento no quadro multilateral, onde nos foram abertas oportunidades para o exercício de cargos e para a execução de acções internacionais relevantes, tal como "exportar segurança", com intervençoes de mérito em operações de paz, através das nossas Forças Armadas.
Numa dimensão mais humana, a partir do 25 de abril, foi possível estabelecer um modelo de enquadramento democrático da nossa diáspora, garantindo-lhe um papel na vida política interna e procurando torná-la um actor da nossa dimensão externa. E, mais tarde, convertemo-nos em receptores de imigrantes, sendo hoje reconhecido positivamente o modo como acolhemos as "muitas e desvairadas gentes" que nos enchem as ruas de diversidade.
Fomos pelo mundo, mas nunca saímos do Atlântico, porque ele é a constante que nos sobredetermina. Muito para além do ridículo seguidismo das Lages, em 2003, ele continua a ser um quadro estruturante para a preservação dos nossos interesses estratégicos. Sem abandonar o investimento no projeto europeu em que nos empenhámos, sem descurar a CPLP e várias outras dimensões, temos todo o interesse, enquanto país, em saber recolocar-nos no centro da nova relação transatlântica que se desenha. Isso será feito quando voltarmos a ter uma política externa, à altura das nossas múltiplas geografias depois do patético interlúdio de silêncio internacional que estamos a atravessar. Não tardará muito.
(Artigo que hoje publico no "Diário Económico")