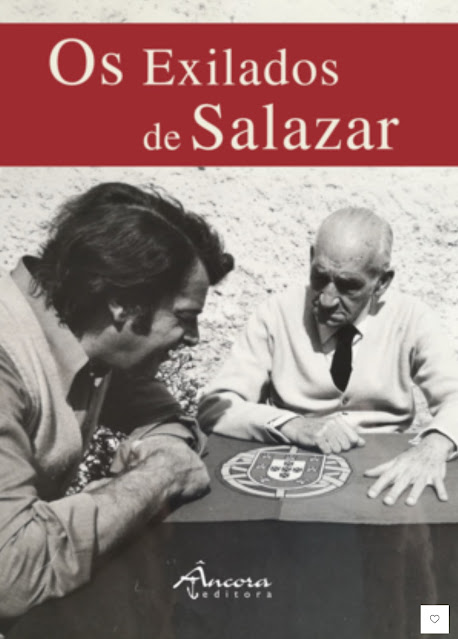É natural que a sociedade que emerge do ato revolucionário seja a primeira a ser identificada com esse mesmo ato. Mas o que já acho menos natural é que se procure colar, quase exclusivamente, a imagem da República às dificuldades e peripécias que ela viveu nesses 16 anos, não olhando, com o mesmo cuidado, para o percurso futuro dos ideais republicanos no seio da sociedade portuguesa, nos 84 anos que se seguiram a essa experiência.
Ao deixarmos que as coisas assim se processem, não estamos a fazer nada mais do que aquilo que o Estado Novo, e outros inimigos da República, não tenham teimado em fazer, ao longo dos tempos, com uma pedagogia negativa, de diabolização das ideias republicanas e de ataque às forças partidárias, que teve êxito na mentalidade de algumas gerações.
É um facto que a I República portuguesa criou um regime que veio a revelar-se instável – embora convenha dizer, desde já, que muita dessa mesma instabilidade acabou por ser provocada pelos inimigos da República, pelos derrotados do 5 de Outubro, e que, igualmente, nela se refletiu a caótica herança deixada pelo regime que nesse dia foi derrubado.
Há ainda que lembrar, porque alguns o procuram deliberadamente esquecer, que Portugal vinha de quase um século de objetivo declínio, enquanto país. A independência do Brasil, em 1822, que foi durante muito tempo a nossa verdadeira grande colónia, consagrou um momento de rutura, sem recuo, para os interesses económicos de Portugal. A morte do dom João VI marcou o fim do Antigo Regime, abrindo caminho a uma guerra civil muito sangrenta – a última que teve lugar em Portugal.
A vitória do liberalismo, no fim desse combate de alguns anos, representou a tentativa de implantar uma primeira gestão democrática, com escrutínio parlamentar. Esse foi um momento muito importante de colagem do país à modernidade política. Mas o liberalismo acabou por não representar a salvação automática da Pátria.
Todo o resto do século XIX, bem como a primeira década do século XX, correspondeu a um período de forte conflitualidade político-partidária, de grande instabilidade governativa, de emergência de novos atores económicos e sociais, todos com ambições de representação no seio do sistema. Os vícios dessa primeira grande experiência parlamentar foram descritos, de forma insuperável, por Eça de Queirós, que ganharia agora em ser revisitado.
Mas os políticos e os seus partidos não foram os únicos intérpretes da representação e da coreografia prevalecente no regime de então. A benevolência histórica dos portugueses tende, quase sempre, a absolver os monarcas de responsabilidades nos episódios mais negros que ocorreram nesse período.
Mas convém sermos claros, de uma vez por todas: a memória dos reis que alicerçaram a nossa magnífica História, e que ao país prestaram serviços extraordinários desde a nossa existência como nação, foi muito mal servida pelas figuras que o final da dinastia de Bragança proporcionou ao país, enquanto monarcas.
Nestes últimos anos, temos vindo a assistir em Portugal à emergência de uma certa historiografia revisionista e saudosista, que tem procurado branquear as responsabilidades dos últimos monarcas portugueses, atenuando as acusações à sua falta de liderança, explorando um certo “glamour” que, no imaginário popular, se associa às cortes, às princesas e aos reis. Essa escola de fabricação de memória, que tem estado particularmente ativa neste último ano – em livros, jornais e blogues –, esquece deliberadamente o triste alheamento de alguns desses monarcas perante a degradação do país, o seu diletantismo e desinteresse face aos principais problemas que então atravessavam a sociedade, os escândalos dos adiantamentos financeiros feitos pelo erário à família real, a cumplicidade de monarcas com golpes autoritários, bem como a sua anuência com medidas repressivas já pouco comuns na Europa constitucional da época.
Foi nesse ambiente, onde se refletia a crescente incapacidade da nossa Monarquia para representar os interesses coletivos da sociedade e para sustentar soluções políticas capazes de superar as suas divisões, que se foram criando as condições para o florescimento das ideias republicanas.
Antes de ser um sistema político, a República era e é um corpo de princípios. Em Portugal, o republicanismo foi uma linha de pensamento que assentou, originariamente, na afirmação de uma espécie de ética nova de cidadania – numa sublimação, muitas vezes um pouco caricatural e radical, de princípios de organização social e de representação popular que se pretendiam regeneradores da visível situação de declínio que o país atravessava. E essas ideias foram tendo um crescente sucesso na opinião pública porque a Monarquia – aquela Monarquia – se mostrava já claramente incapaz de pilotar uma saída política para a crise portuguesa.
Por isso, é importante que situemos o projeto republicano português no mundo desse tempo, marcado pela prevalência simplista de algumas ideias da Revolução Francesa, pela crescente popularidade dos ideários de libertação social, que faziam caminho fácil num novo operariado e em classes urbanas, que tentavam consagrar a sua emancipação política. O radicalismo, alguma crispação e muita agressividade, levados aos extremos e potenciados pela rigidez do sistema, passaram a fazer parte integrante dessa doutrina, com que se procurava consagrar uma nova legitimidade, que pretendia devolver a sociedade aos seus cidadãos.
Acresceu ainda, no caso português, a revolta pela humilhação provocada pelo imperialismo britânico em África – o “mapa cor-de-rosa” -, que deixara claros os limites da fraternidade que o Tratado de Windsor proclamava.
Por toda a Europa – e Portugal não escapou a isso – uma cultura de violência ligou-se, assim, à ação política. No nosso caso, o regicídio de 1908 foi o tempo mais trágico na expressão concreta dessa conflitualidade.
Quero com isto dizer que o regime que sai do 5 de Outubro é um sistema político marcado por uma matriz radical que havia sido aculturada nas últimas décadas de um modelo decadente e já sem saída. A prova provada de que o problema residia, então, na própria Monarquia portuguesa é o facto da República portuguesa, ao ser implantada, ter acabado por ser apenas o terceiro regime de matriz republicana existente em toda a Europa, depois da França, em 1789, e do caso muito particular da Suíça.
A chefia do Estado, em todo o resto da Europa, permanecia ainda titulada por reis. E esse ponto também é muito importante para se entender a dificuldade da nova administração republicana de conseguir a sua aceitação e reconhecimento internacional. A classe dirigente de uma nova República, surgida num país pobre da Europa, tinha grandes dificuldades em falar, de igual para igual, com Monarquias ligadas por regulares alianças familiares.
Com exceções a confirmar a regra, podemos dizer que os regimes monárquicos sobreviveram em países onde os respetivos titulares, em momentos decisivos da sua história, souberam colocar-se do lado certo, representando os interesses profundos das populações e as opções corretas para a estabilidade das sociedades. Se olharmos bem para a História, verificaremos que cada uma das Monarquias existentes na Europa se justifica pelo facto dos seus titulares conjunturais terem sabido, no momento certo, afirmar com dignidade os interesses do seu país e do seu povo. E, a contrario, verificaremos que a imensidão de países que deixaram de ser Monarquias adquiriram o estatuto de Repúblicas muitas vezes pelo facto do seus monarcas, em épocas decisivas, não terem estado à altura de situações com que foram confrontados. Esse foi, claramente, o caso de Portugal.
Mas voltemos ao 5 de Outubro.
O novo regime republicano que dele sai identifica-se numa ideologia burguesa e urbana que eleva elementos tido como caraterizadores de emancipação popular – de que o laicismo e a aposta na instrução pública eram os vetores centrais – a uma espécie de dogmas de uma nova cidadania, para além do culto e promoção de valores de solidariedade e de responsabilidade.
Essa marca da República, expressa na tentativa de impor um choque cultural a uma sociedade fechada, predominantemente rural, com grande influência clerical e muito presa a um Portugal tradicional, acabou por ser a fonte de muitos dos erros cometidos pelo novo regime, que atropelou frequentemente, nesse caminho vanguardista, valores como a tolerância e o respeito.
A ele se opuseram, contribuindo também para a sua rigidificação, não só algumas expressões mais reacionárias da sociedade portuguesa – de que o fenómeno proto-fascista de Sidónio Paes é o exemplo mais flagrante – mas, igualmente, os radicalismos esquerdistas, nas suas expressões anarquistas ou tributárias da nova ilusão soviética.
Se a tudo isto somarmos uma entrada mal preparada na I Guerra Mundial, com o louvável objetivo de salvar o que restava do império e da partilha da conferência de Berlim, mas que acabou por potenciar a acrimónia nas Forças Armadas, veremos que estava a ser criado, crescentemente, um ambiente para colocar Portugal pela hora da onda autoritária que então já ia atravessando muito da Europa.
O golpe de 28 de Maio de 1926 é apenas o corolário da mudança na relação de forças interna e na crença da regeneração por via autoritária – é sempre mais simples governar quando se calam violentamente os adversários. E até reduzir o défice!
Mas há uma coisa que devemos ter bem claro: os 100 anos da República portuguesa, ou da República em Portugal, não se esgotam nem se identificam exclusivamente com a experiência parlamentarista iniciada em 1910, esmagada autoritariamente em 1926. A nossa República está muito para além desses seus 16 primeiros anos.
A República está bem presente em todos quantos lutaram nas trincheiras do 3 a 7 de fevereiro de 1927, está nos combatentes exilados da Liga de Paris, está nas revoltas da Madeira, da Marinha Grande, da Mealhada, da Sé, de Beja, no assalto ao Santa Maria, nas audácias de Henrique Galvão ou Palma Inácio.
Está também na coragem dos que assinaram as listas do MUD e que, por isso, sofreram consequências em toda a sua vida futura.
A República está na vontade cívica que lançou as candidaturas de Norton de Matos, de Quintão Meireles e de Ruy Luís Gomes.
Foi a República que trouxe Humberto Delgado ali, à estátua de Carvalho Araújo – ele próprio um homem da República –, no final de uma manhã de 1958, de que fui jovem testemunha, pela mão do meu Pai.
Foi o espírito da República que sobreviveu e alimentou as lutas clandestinas que atravessaram o país durante as décadas da repressão do Estado Novo, nas prisões e nas deportações, de Peniche ao Tarrafal, nos exílios em França, no Brasil ou na Argélia.
Foram os ideais republicanos que mobilizaram jornalistas e escritores contra a censura, que estimularam as lutas estudantis e souberam criar uma espécie de contra-cultura que serviu de magma à mudança das mentalidades que foi fazendo o seu caminho nas novas gerações.
Foram os ideais republicanos que primeiro souberam evoluir, entre nós, na perceção da questão colonial, entendendo que os antigos paradigmas não tinham já espaço histórico e que era necessário respeitar o acesso dos outros aos direitos que para nós reclamávamos.
Aqui, em Vila Real, foram os ideais republicanos que, ciclicamente, mobilizaram, em condições de alguma perseguição e pretendido temor, algumas figuras de notável recorte cívico, aproveitando brechas que o Estado Novo por vezes se via obrigado a conceder. Quero lembrar, nesta ocasião, como símbolos dessa luta, os nomes de Otílio de Figueiredo e de António Cabral, que tive o privilégio de cruzar num desses exaltantes tempos da vida que valeram a pena.
E foram – uma vez mais – os ideais republicanos que animaram quantos, finalmente, se envolveram nessa aventura, magnífica e sem par, que foi o 25 de Abril.
De lá para cá, mais de 36 anos passados, continuam a ser os princípios republicanos a marcarem a nossa Constituição, a servirem de referente às liberdades que usufruímos, as quais estruturam o nosso sistema político, no qual se procuram, e serão encontradas, as soluções para a crises do nosso quotidiano.
A República, com todos os seus sobressaltos e problemas, continua a ser, entre nós, o outro nome da Liberdade.
(Intervenção que proferi em Vila Real, no dia 3 de outubro de 2010, nas comemorações da implantação da República)