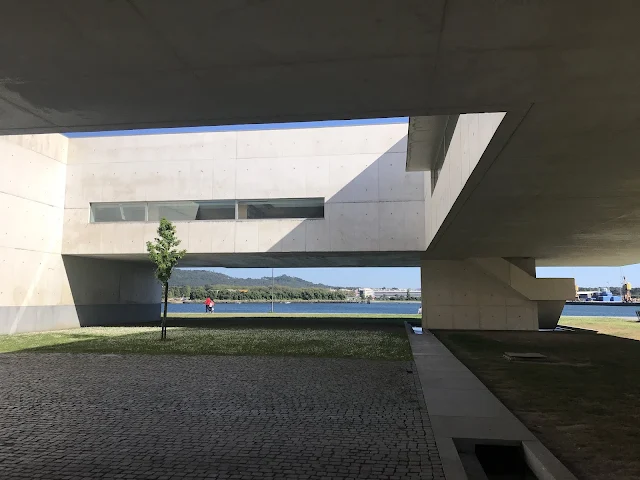Nos meus tempos de Vila Real, algumas ruas da cidade atapetavam-se de flores, creio que pela Páscoa. Não faço ideia se o hábito se mantém. Ao que lembro, duas artérias disputavam então o título das mais bonitas passadeiras de flores: a rua Avelino Patena e a rua Alexandre Herculano. Tenho a "glória", que julgo única, de ter nascido e vivido na primeira e de ter depois passado alguns anos na segunda.
Os desenhos da rua Alexandre Herculano (na imagem) eram da autoria do senhor Lima, proprietário do Café Imperial, na Rua Direita. Com fama de ter “ideias avançadas”, leia-se, de comunista, sempre mal encarado e algo desagradável para com os clientes (chegava a bater-lhes!), só enchia o seu café na noite de Consoada, e apenas por ser o único que abria em toda a cidade. Por ali, tradicionalmente, se alojavam os "hereges" que insistiam em tomar uma bica profissional ou os muito viciados, a caminho da missa do Galo. Fui um bom cliente dessas noites, pela primeira das razões. Os desenhos das passadeiras do Lima, dizia-se, eram dificilmente batíveis. A mão artística da familia Claro, recordo, orientava a execução da passadeira da rua Avelino Patena, a sua grande competidora.
Nem imaginam com que “raiva” de infância, no dia da procissão, eu assistia à passagem do bispo de Vila Real, dom António Valente da Fonseca, pisando aquela “obra de arte”, que tanto trabalho tinha dado a fazer. Não lhe perdoava!
Para a composição das passadeiras, ia-se, na semana anterior, pelos montes, em busca de flores. Bem industriado pelo senhor Lima, um grupo de senhoras avançava de carro para zonas rurais onde se sabia ser possível colher as cores das pétalas desejadas pelo "designer".
Quem então as conduzia era o Mondrões, um motorista reformado cuja contribuição para o empreendimento era manobrar um grande automóvel emprestado à organização. Era um homem baixo, encolhido sobre si mesmo, com um boné castanho. Vivia num baixo da nossa rua, entre o Benites da sapataria e o Marques do liceu.
O Mondrões era homem de poucas falas, resmungão, pouco aberto a aceitar comentários sobre o modo como dirigia a viatura. Durante as noites em que, no "Ninho" (uma instituição de educação de crianças pobres, também lá na nossa rua, dirigida pela “Lurdinhas do Ninho”) se fazia a separação das flores, as senhoras relatavam então, entre gargalhadas, episódios proporcionados pela condução do Mondrões, durante essas expedições rurais. Ao que parece, o modo peculiar de conduzir do Mondrões proporcionava momentos de incómoda emoção, fruto do estado de quase permanente embriaguês em que o homem andava. Mas a história foi-lhe justa: não há nota de qualquer acidente ocorrido, pelo menos nessas jornadas floridas.
Quase em frente ao Ninho ficava o Morrinha, um tasco que recordo dirigido por um cavalheiro que mancava muito de um pé, tutelado por uma autoritária mãe (o que a gente guarda, do passado!). O Morrinha foi talvez o último lugar de Vila Real onde ainda se podiam comprar rebuçados de “meio tostão”. (Em teoria, e pela taxa oficial de conversão euro-escudo, um euro daria para comprar 4.008,964 rebuçados de meio tostão).
Um dia, no Morrinha, terá sido proposto ao Mondrões que experimentasse um vinho branco cuja pipa acabara de chegar do produtor. Pedia-se a sua abalizada opinião sobre a nova “pinga”. O homem, porém, tinha acabado de emborcar uma dose idêntica de vinho tinto, pelo que, no seu estómago, terá sentido um ligeiro incómodo, como resultado da mistura dos dois líquidos. Acariciando o seu ventre proeminente, o motorista profissional teve então um "diálogo" com os dois vinhos, que ficou nos anais da vizinhança: "Ou vos aguentais os dois aí dentro ou vamos os três para o chão!"
Uma aliança etílica ligeiramente menos bem “réussie”, no meu almoço de hoje, e os campos floridos à beira das estradas da Cova da Beira levaram-me assim ao Mondrões, ao Morrinha, aos tapetes de flores, à Lurdinhas do Ninho, ao Lima do Imperial e até ao bispo que lhe pisava as obras de arte. É que isto é como as cerejas - umas levam às outras -, as quais, agora, por aqui, já se comem bem boas!