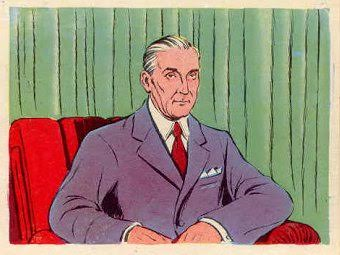Não há nada de mais "ideológico" de que um guia turístico. A impressão que ele nos transmite sobre os países que visitamos é essencial para formatar a nossa opinião sobre ele. Para o bem e para o mal.
Quando vivi em Londres, decidi adquirir todos os vários guias publicados sobre Portugal e verifiquei que, por erro, omissão ou preconceito deliberado, algumas narrativas sobre o nosso país eram incorretas, marcadas por uma visão paternalista e, frequentemente, com dados factuais errados. Foi a correção destes últimos que utilizei como pretexto para escrever a cada uma das editoras, propondo-lhes uma colaboração da embaixada para revisão das suas próximas edições. Creio que todas aceitaram e, naturalmente, aproveitei para lhes propor, além dos dados de facto, textos alternativos sobre diversos capítulos. Algumas foram sensíveis à "revisão" dessa parte mais substantiva, outras perceberam a nossa intenção e reservaram a sua liberdade de opinião. Em particular, era a História e a vida social, tal como a arte e literatura, que mais nos interessava "corrigir". Alguma coisa se avançou.
Os guias sobre um país são, muitas vezes, escritos por quem dele tem uma visão distante, uma informação acumulada de várias fontes. Nas sucessivas edições não há, em geral, o cuidado de proceder a atualizaçōes e, na maioria dos casos, fica a sensação de que o responsável pelo texto se baseia em "informadores" locais, que impõem as suas escolhas. (Há um bom teste para a qualidade de um guia: ler nele algo que conheçamos bem). E quanto menos conhecido é o país, mais as versões deturpadas sobre a sua realidade podem perdurar. É mesmo famoso o caso de um guia escrito sobre um pequeno país latino-americano que terá sido elaborado por alguém que nunca o visitou. Com a internet, tudo hoje é possível.
Porém, o guia que comprei aqui em Kiev não era desses. É uma belíssima edição nacional, bastante barata, muito bem escrita, num excelente inglês.
Ao comprá-lo, logo após a chegada, lembrei-me de um guia sobre Ialta que adquiri quando fui à Crimeia em 1980. Chamava-se "Greater Ialta", era razoavelmente ilustrado para a época e tinha a curiosidade de nos chamar a atenção para zonas da periferia da cidade... onde era proibido deslocarmo-nos! Os textos eram num estilo gongórico-soviético, que descreviam o mundo local de então como "o sol da terra", para usar uma expressão consagrada.
Voltando ao guia de Kiev que agora adquiri, é muito interessante analisar nele o modo como é feita referência ao período comunista, as ironias sobre as motivaçōes ideológicas de certos estilos arquitetónicos, sobre valores culturais que entretanto foram abandonados e rejeitados e, muito em especial nos textos históricos, o esforçado sublinhar, em detrimento até de algum rigor, das pulsões independentistas ucranianas.
Os guias turísticos, repito, podem ser muito ideológicos, mesmo que, à partida, aparentem não o serem.